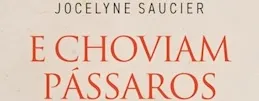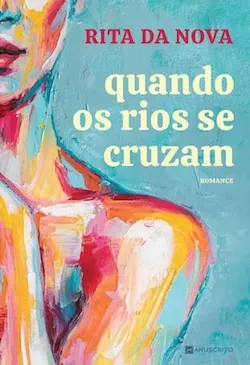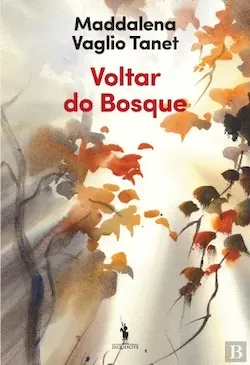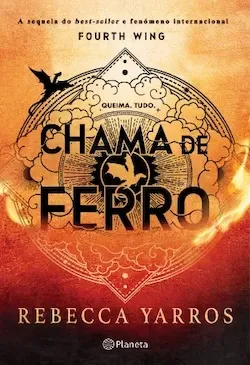Raízes - Ana Cristina Silva

O Rei do Monte Brasil
2011-02-25 00:00:00Ninguém me contou. Li no jornal que te mataste. Transformaste-te num dos espíritos malignos que assombram a vontade dos homens.
Fazes parte dos valoyi que só sabem atormentar, que atiçam o desespero, que na escuridão buscam por mais escuridão. Desde o dia 2 de Janeiro de 1902, que habitas o além, lançando mau-olhado, pragas e maldições. És como um fogo revolto que se apagou vencido pelas trevas maiores do universo. Imagino, Mousinho, que no momento em que soou o tiro, nos segundos imediatamente antes, os teus mortos ressuscitaram todos ao mesmo tempo. Sim, nesse minuto soubeste que, tal como não tiveste compaixão por ninguém, não havia uma pessoa neste mundo que tivesse piedade de ti. Talvez aconteça algo de semelhante comigo quando chegar a minha hora. Por cada espírito, há um morto que não morre por ter sido assassinado por mim ou por minha ordem. Dizem os padres que, desde que fui baptizado, ficaram expiados os meus pecados. Pouco fiáveis são as suas palavras, como as de qualquer branco.
Muitas vezes a vida consiste em escolher entre dois medos. Confesso que desde criança tive pavor em morrer pelo que o mais fácil para combater este medo sempre foi reduzir todos as tribos que não pertencessem ao povo Vátua a um único corpo oferecido à minha azagaia. Se o temor ao seu soberano Gungunhana, fosse a lei vigente não corria o risco de ser desafiado. Acreditava na morte e essa crença tinha um valor ritual que me livraria das sombras e dos perigos. O governo de um povo é sempre o produto da força do seu rei. Aprendi esta dura lição com o meu pai. Aprendi muitas outras coisas sozinho. Mesmo sob a influência de agitações interiores, sempre soube parecer o ser mais tranquilo deste mundo, ou às vezes o mais feroz, a quem nada importa verdadeiramente, e que, por consequência, exerce com naturalidade o seu poder sobre todos. Contava, para ampliar esse efeito, com o terror dos meus súbditos - o massacre das tribos vizinhas era no fundo uma marca de superioridade do povo vátua, como nos chamavam os brancos. Matava e mandava matar, violava mulheres e capturava escravos. Era em volta deste tipo de acções que a minha forma de reinar se organizava e assim a minha estrela apagava da noite as mil incertezas que se fixam aos pensamentos de um régulo rodeado de inimigos.
Quando chegou a hora da derrota não me rendi, mesmo depois da vitória dos portugueses em Coolela e de terem queimado a minha capital Manjacaze. Fiz, isso sim, não o nego, um acordo político que me permitiria conferenciar com os governantes portugueses, quiçá com o próprio rei de Portugal. Eu e D. Carlos, ambos soberanos de sangue real – porque o poder vem do sangue e define-se através do sangue - saberíamos entender-nos sem falsidade dos embaixadores nem as deturpações dos intérpretes. Talvez fosse necessário viajar até Portugal. Ainda que tivesse de enfrentar as enormes massas das vagas negras do mar, mesmo indo contra as proibições que impedem um chefe Vátua de se aventurar em águas revoltas, faria o necessário para não se extinguisse esta raça de guerreiros que sempre soubera comandar. O que importava era ganhar tempo, opor-me à política de conquistas dos portugueses, se possível reparar os equívocos, nem que para isso tivesse de jurar de novo vassalagem ao rei português. Havia evidentemente que salvaguardar a minha vida e a dos meus familiares e para tal confiei na palavra de Comandante da Canhoneira Capelo, Soares de Andrea. Ouvira dizer pelos meus espiões que eras altivo e perigoso e não estava disposto a morrer às tuas mãos. A minha captura em Chaimite foi uma farsa que tu bem soubeste usar para enaltecer teu prestígio. Fingi render-me ao teu poderio militar, mas antes já antes havia sido combinado que iria ao encontro do comandante Andrea. Havia guerreiros armados com canos de fogo à minha volta. Recordas-te? Não dei ordem para atirar. Omitiste o facto do teu relatório? Soberbo e mentiroso, mal te apercebeste da minha atitude de apaziguamento, forçaste a situação para me humilhar. Ataste-me as mãos atrás das costas e ordenaste que me sentasse no chão. Foi forçoso submeter-me às determinações que me eram imposta. Empurraste-me violentamente para o chão, deste-me dois pontapés. Assustado, não tive oportunidade de examinar com minúcia as consequências da minha rendição, mas soube de imediato que cometera o mais estúpido dos erros.
A humilhação durou muito menos do que o choque de te ver matar dois dos meus tios. Acusaste Manhune de ser inimigo de Portugal. Ele deixou-se conduzir num passo firme, foi amarrado a uma estaca da paliçada, majestoso na sua altivez feroz, disse apenas sorrindo que era melhor desamarrá-lo para que pudesse cair quando recebesse os tiros. Depois foi a vez do meu tio Quêto. Confortado pelas suas convicções implacáveis, gritou em voz muito alta que tinha morto dezenas de brancos em Coolela antes de receber no peito a carga de fuzilaria. O corpo desmoronou-se e um vigoroso jorro de sangue salpicou o chão. A cabeça rolou sobre o peito, os olhos ainda pestanejavam como que surpresos com a própria morte, quando lhe cortaste a cabeça. Subitamente pressenti a voragem da traição. O povo comemorava. Era horrível de escutar a alegria ruidosa dos meus guerreiros com repetidos bayetes nos quais que me punham a ridículo. Ao mesmo tempo suplicavam-te misericórdia como se nenhum obstáculo pudesse deter. A confusão cegava o meu raciocínio ao ponto de ter a sensação de que na minha existência não tinham existido antepassados que me protegessem.
Toda a minha força, naquele momento que julguei ser o último, se concentrou no meu rosto crispado. Envelheci no instante em que vi morrer os meus dois tios. Aprisionado num pesadelo de sonâmbulo, crente que seria o próximo, estava disposto a pedir pela minha vida. Então reparei em Sonie, a minha mulher principal e minha mãe adoptiva ajoelhadas a teus pés a implorar por mim e por Godide, o meu filho favorito. A minha mulher, que sempre fora bela, parecia desfigurada pelo terror. Um rugido animal saía-lhe da boca, reunindo numa fiada ininterrupta todas as palavras de português que conhecia. Era manhã cedo, o sol estava encolhido mas assanhado, a sua esfera compacta arrancara-me dos pensamentos toda a lucidez. Nos meus olhos ardia o fogo, as pupilas ferviam debaixo da testa. A luz do dia perfurava-me e eu deixei de ser um valente guerreiro para me transformar num farrapo percorrido de tremores.
O invencível Gungunhana acabou assim por vir parar à Ilha Terceira dos Açores, onde não passa do rei do Monte Brasil. Nesta terra existe sempre uma névoa. A um Verão húmido, sucede-se um Outono brumoso e um Inverno frio e chuvoso. Mesmo no meio do maior desastre, em que o meu esgotamento parece tirar parte deste horror, jamais aceitei o exílio e a humilhação de ter sido destituído do poder. O governador do forte de S. João Baptista, aqui em Angra, confunde o meu aspecto abatido e o vazio do meu olhar com resignação. Todos os africanos - eu, o meu filho Godide, o meu tio Molungo e Xixaza que me acompanharam - têm liberdade de movimentos. Esforço-me por atingir esse estado quase puro de liberdade que se parece tanto à submissão, mas se não vier respirar na floresta do Monte Brasil, não tenho a certeza de conseguir aguentar durante muito mais tempo esta impassibilidade mais própria de uma árvore. Consegui sobreviver graças à dualidade contraditória entre o rosto tranquilo e sentimentos de ódio que não se confirmam na minha expressão. Há momentos em que parece que não aguento mais. A todo o momento escuto esta torrente de palavras que entram e saem do meu cérebro com as quais amaldiçoo os brancos. Hoje foi um dia bom porque soube que estás morto.
Esta manhã, depois de ter lido o jornal, caminhei em direcção à floresta do Monte Brasil para apanhar coelhos, levando um pau afiado para fazer de lança. Enquanto estou aqui, as árvores sussurram, as árvores falam. Rangem os ramos. Se fechar os olhos posso sentir os passos de uma gazela ou os saltos endiabrados de um macaco e por instantes acredito que regressei a África. Mas, para que pare a efervescência do meu cérebro, para que a ira se acalme, preciso de imaginar as mangas do meu exército a preencher o horizonte num densa linha de guerreiros. Dentro do forte de Angra, onde fui instalado, a minha memória transformou-se num espelho opaco feito em cacos. Cá fora, sobretudo num dia de sol como hoje, quando chego ao Monte Brasil e cerro os olhos, as nuvens juntam para mim um exército poderoso. Ao reaver o passado, qualquer coisa volta a iluminar-se na obscura região do ódio. Revejo milhares de guerreiros com as cabeças ornamentadas com penas de avestruz. Em coro fazem a saudação bachete. Giram e desferem com as lanças um golpe para o ar, agacham-se e inclinam-se, dançam sem pensar na ferocidade da dança, representam a violência e encarnam a morte. Aos gritos, ocupam uma posição ofensiva, e agindo com a precisão de uma máquina de guerra bem lubrificava, arremessam as armas, levantando bem alto o braço. As lanças matam de longe, perfuram os braços, trespassam o coração, destroem gargantas, furam os olhos. Os inimigos brancos caem fulminados e eu sorrio perante essa imagem. Tenho a sensação de que o mundo parou e de que eu regressei às vitórias.
Mal reabro os olhos, o silêncio é tanto na floresta do Monte Brasil que o canto longínquo de um pássaro parece ensurdecedor. As copas vestidas das árvores, tão diferentes das densa folhagem africana, as sombras alongadas da tarde confirmam que não passo de um preto velho à caça de coelhos.
Mais raízesVoltar