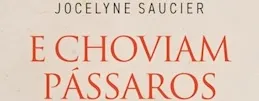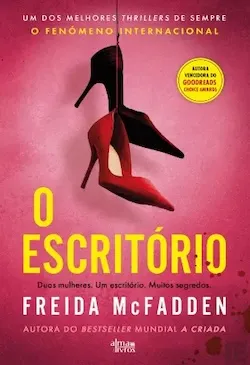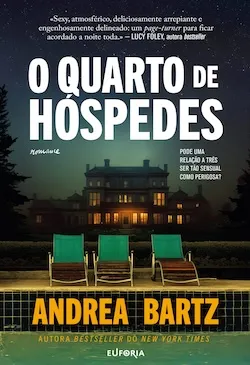Folheando com... Mário de Carvalho

Mário de Carvalho
2012-09-14Tem com a literatura a mesma genial relação que um pintor tem com as suas telas. Leva mais de 20 livros traduzidos em várias línguas e um sem número de prémios. Falamos de Mário de Carvalho, escritor maior da literatura Portuguesa.
Se preferir ouvir a entrevista, clique aqui.
Permita que relembre alguns factos da sua vida. Foi preso pela PIDE durante a instrução militar em 1971 e submetido a sevícias e privação do sono, acabando por cumprir 14 meses de prisão nas cadeias políticas de Caxias e Peniche. Saiu de Portugal ilegalmente em 1973, creio. Seguiram-se outras e outras peripécias depois de regressar a Portugal.
O seu rasto dava uma história para um filme, Mário de Carvalho?
Sem dúvida, mas não escrito por mim. Porque tenho algum pudor em utilizar nas minhas obras aspectos claramente autobiográficos. Há uma excepção no argumento de um pequeno filme de José Barona, que se chama “Quem é Ricardo?” e que circula no YouTube neste momento, em que se descreve o interrogatório na PIDE, precisamente nos anos 70. Resulta da minha experiência pessoal mas não é o meu caso. Ou melhor, é o meu caso mas transfigurado. De qualquer maneira, e ao que me dizem outras pessoas, aquilo corresponde quase exactamente ao que eram os interrogatórios da PIDE naquela altura, no final do Marcelismo.
De qualquer forma estou convencido que, se não tivesse experienciado o que experienciou, provavelmente não escreveria da forma profunda como o faz.
Mas isso acontece com todos nós. Porque a escrita de qualquer livro, de qualquer abordagem ficcional, não pode deixar de ter em conta a vivência do autor. O autor transporta-se todo para o seu livro. Nas impressões que colhe no dia-a-dia, nas observações que faz, nas coisas que viveu, naquilo que os amigos viveram, nos livros que leu, nos filmes que viu, nas peças de teatro a que assistiu. Toda essa grande enciclopédia da vida e da cultura são convocados e são chamados para a feitura do livro. Mas não apenas chamados, também estão a chamar, porque estão a apelar a que uma enciclopédia do leitor venha encontrar-se e confrontar-se com esta. Eu posso motivar, eu posso prosseguir, dissertando sobre este assunto, mas isto levaria a uma questão muito curiosa e que é esta: porque é que acontece tantas vezes, um leitor apenas seleccionar um ou outro aspecto – por vezes secundários –, daquilo que nós escrevemos? E por que é que por vezes o leitor vê coisas em que nós não reparámos quando estávamos a escrever? A resposta é: porque fizemos despertar no leitor qualquer coisa que lá estava. E há qualquer coisa que para o autor é importante. Ou seja, quando se pensa naquele velho lugar-comum de que o leitor também é o autor do livro, eu creio que isto tem toda a razão de ser. O Aquilino dizia que tinha aspiração a uma sociedade em que os leitores já conseguissem ser os autores dos seus livros. Eu acho isto extremamente interessante e importante. De facto trata-se de o leitor ser também, à sua maneira, um autor. Quando nós encontramos pela frente um leitor que não tem enciclopédia para convocar, que não tem uma vivência pessoal que seja tocada, que não tem espessura cultural que possa responder ao livro, este não cumpre a sua função e o autor sente-se frustrado.
Escreve romances, novelas e muitos contos, alguns deles adaptados ao teatro e ao cinema. Encara os vários géneros literários da mesma forma?
Houve uma altura em que eu dizia que repousava num género passando para outro. Isto é, quando acabava um romance, por exemplo, e estava exausto, passava para outra matéria. Quando vivia durante uns meses durante o Império Romano de Marco Aurélio, por exemplo, apetecia-me saltar para a actualidade a seguir. Depois fazia uma incursão pelo teatro e quando estava de teatro fazia uma incursão no cinema. E isso tem acontecido na minha vida por duas razões. A primeira é porque sou curioso. Sou naturalmente curioso, com aquela curiosidade, como dizia o Eça, que leva os homens à Índia. Não é espreitar pelo buraco da fechadura, é a que leva os homens à Índia. E por outro lado, os autores criam personagens: personagem A, personagem B. E as personagens não são iguais, nem sequer têm linguagens semelhantes. São contraditórias. Trabalhamos com Deus, trabalhamos com o Diabo, ou melhor, trabalhamos com os anjos e com os demónios. Vamos buscar os anjos e os demónios dentro de nós. De certo modo isto é uma cisão de personalidade, uma certa esquizofrenia, não é? Agora, se pensarmos nas diversas heteronímias, nas diversas personalidades, eu costumo dizer isto de forma mais amaciada. Nas várias faixas, nas várias pistas, nos vários territórios, nós temos um pouco isto... a capacidade de se desmultiplicar, a capacidade de se diversificar noutros. E esta multifacetagem que aparece nas minhas coisas tem um pouco a ver com isso. O espírito curioso aliado a esta natural dispersão de pontos de vista, de vozes e de percursos.
O que mais o atrai quando escreve: o mundo sonhado (as utopias) ou o mundo real? Ou ambas?
Tem dias! Porque quando eu escrevia teatro - na última peça de teatro isto não acontece, é uma peça de teatro que se passa numa zona vagamente referenciada, propositadamente referenciada, uma antiguidade que não está identificada –, era habitualmente aí que as minhas preocupações do quotidiano, e as personagens do quotidiano, e as situações do quotidiano emergiam, o que levou a algo muito engraçado. Nas minhas peças de teatro dos anos 80 existe uma personagem que é economista, que está a fazer um plano de investimentos, a fazer trabalho extra, para comprar um forno de microondas. Isto era possível nos anos 80, era assim que se vivia. De maneira que as marcas da época ficaram lá gravadas. Se calhar daqui a uns anos, pelo andar da carruagem, pela maneira como nós vivemos agora, é necessário outra vez estar a trabalhar meses para comprar um forno de microondas. E isto só para dizer que o quotidiano imediato influencia-me nessas peças também com os seus aspectos datados.
O Mário de Carvalho olha para as personagens que cria e vê provavelmente pessoas de carne e osso. Das muitas que já criou – entre romances, novelas e contos –, qual delas é para si a mais marcante? Consegue eleger uma?
Se quer que lhe diga nunca tinha pensado nisto. Tenho ideia de que em dada altura, a personagem que talvez mais se parecesse comigo, ou pelo menos com o meu mundo interior ou com as minhas complexidades interiores, é uma personagem chamada Lucius Valerius Quintius do meu livro Um Deus Passeando Pela Brisa da Tarde. De resto eu devo ter milhares de personagens... Mas é, como dizia o outro, Madame Bovary, de facto eu estou em todas. Mesmo às vezes nas mais repulsivas. Vou buscá-las a qualquer lado. Mas também tenho verificado isto. Quando às vezes, e também acontece, uma personagem é inspirada noutra, numa figura da vida real, essa figura da vida real nunca se reconhece lá. Podemos estar tranquilos.
E dos muitos livros que certamente leu, qual foi a figura literária que mais o marcou?
Capitão Ahab, do Moby Dick, é o que me está a ocorrer agora; o Pedro, de Guerra e Paz, de Tolstoi; talvez o Carlos da Maia, com quem eu antipatizo um bocado; e, obviamente, o Dom Quixote de La Mancha.
Aliás, por várias vezes já o ouvi mencionar o Cervantes.
Sabemos que é um escritor que se preocupa com os problemas sociais. Pondo os olhos nos tempos que correm – um tempo em que a "aldeia global" parece crescer todos os dias e em que os "quintais" parecem estar a desvanecer –, pergunto-lhe, agora que acaba de escrever duas operetas trágicas: o que acha (em Portugal e não só) da situação actual e dos caminhos que estão a ser seguidos?
É uma questão muito complexa. Eu acho que o poder está entregue a um conjunto de pessoas que estão a conduzir o país para a desgraça e estão a torná-lo inabitável. Estão a tornar este país inabitável. E muitos deles – não são todos e até estou a pensar em excepções, ou estou a pensar em gente que não está tão tocada por isso – em muitos deles não é acessível aquilo que as pessoas bem formadas chamam o conceito de decência. Não têm sequer este padrão. Nem têm sequer acesso a esta noção: o conceito mínimo de decência. Olhamos para aqueles homens, pensamos nestes, pensamos noutros iguais que são iguais e noutros até que estão presos, ou noutros que andam fugidos, e pensamos que essa gente olha para os portugueses não como cidadãos mas exactamente como os criminosos olham para os otários. São pessoas que consideramos como pessoas susceptíveis de ser enganadas e espoliadas. E de facto os recursos do Estado português têm sido abocanhados por uma crosta formada por gente que não anda longe das escórias sociais. Isto é o que eu penso.
Acha que o fenómeno da globalização também chega à literatura?
Possivelmente. Chega a todo lado, mas note que a globalização começa em 1415 com a tomada de Ceuta. Mas é evidente que chega à literatura. Ontem, ao ler o Jorge Luís Borges, ele é genial...
Com quem não simpatiza como pessoa...
É verdade. Acho que é um conversador absolutamente genial. Ainda hoje agarro nas entrevistas espantosas que ele deu a um fulano Jean-Jacques Galinier da Radiodiffusion Française, uma coisa espantosa. Conversador espantoso, tão culto, tão inteligente, tão brilhante. Agora, como cidadão, era miserável. Simplesmente isso não liberta de ser um escritor enorme.
Ele menciona um romance chinês. O Jorge Luís Borges faz estes jogos com todos, que é muitas vezes misturar a eluição verdadeira com a falsa, e cumpria ao leitor ir sempre ver se isto é verdade, se isto é mentira; este tipo existiu ou não existiu; este autor que ele cita disse mesmo isto ou nunca disse. E então ele cita ali um romance chinês, no tempo em que o Jorge Luís Borges escreveu nos anos 50, isto era uma coisa esotérica, mas se for à Wikipédia lá tem informação sobre esse romance chinês e nós ficamos sabendo que no século XVIII há um enorme romance chinês com 400 personagens, passado em dois palácios, com duas famílias. Agora chegam-nos livros de outras culturas, existe esta interpenetração de culturas, de maneiras de ver, que é de facto espantosa. Com os seus perigos, e um dos perigos que está a acontecer hoje em dia, é o nazismo árabe de expressão religiosa.
Como é que acha que vai evoluir a literatura portuguesa a médio e longo prazos?
Conhece algumas das entrevistas do Philip Roth?
Conheço.
Não é o maior escritor americano. O maior talvez seja Cormac McCarthy. A América vive numa espécie de rãs à volta do charco. Estão todos virados uns para os outros, em cima uns dos outros e não percebem o que é que se passa no mundo. Estão convencidos que têm escritores magníficos e não têm. São de segunda ordem. O Philip Roth… Não quer dizer que não seja muito bom! Só que não é propriamente um génio. Mas o Philip Roth tem uma ideia muito pessimista sobre o futuro da literatura. Diz que é uma das últimas causas perdidas. Que daqui a uns anos já ninguém vai ler. Eu não tenho nada que estar a fazer afirmações, nem optimistas nem pessimistas. Não sei, eu tenho feito o meu trabalho, com autenticidade, faço o melhor que posso, felizmente tenho encontrado leitores e tenho dado boas respostas e espero que, digamos, esta área de experiência cultural, de vida, experiência do Outro e experiência lúdica, não se perca. Porque nós ficaríamos um bocadinho mais destituídos.
O seu novo livro chama-se O Varandim seguido de Ocaso em Carvangel. Duas histórias. Há algum acontecimento ou peripécia subterrânea para ter agarrado estas histórias?
Uma das histórias é só sobre mulheres. Talvez não se recorde disto à primeira vista mas a segunda história é um catálogo completo de mulheres. E é uma história de amores e de amores desencontrados. Tudo isto passado num ambiente que tem ressonâncias terminais. Está ali qualquer coisa que está a chegar ao fim. E no meio daquele ambiente em que se misturam os mundos, lembro-me do Borges outra vez, com o jardim dos caminhos paralelos, todos os mundos estão presentes ao mesmo tempo... e não só são paralelos, como se entrecruzam e entrelaçam num labirinto perfeitamente infinito e inextrincável, pois aqui há vários mundos que se misturam. Um pouco como nesta hipótese de Borges, o grande labirinto universal, em que as várias hipóteses e propostas se encontram. Mas também é um pouco à maneira de uma banda desenhada que não conhece e que eu ainda conheci porque tinha livros antigos em casa, que se chama The Katzenjammer Kids, Os Sobrinhos do Capitão, que se passa num ambiente estranho, com um tempo germânico, um tempo americano, um tempo africano, um tempo australiano. Há uma mistura de tempo. Há um tempo de ameaça também que paira, aquele grande canhão desmesurado, e também há alguma ironia e comicidade. Na primeira história, há esta nossa apetência, um bocadinho sinistra, para a morte e para o espectáculo da morte. O que importa naquela pequena cidade chamada Svidânia é o espectáculo da morte. É por isso que, no fundo, toda aquela pacata gente se interessa. E depois, no meio dos ingredientes que são típicos da opereta clássica e do ambiente austro-húngaro, lá temos os grão-duques, os bailes, as caçadas, aquela gente toda a comportar-se daquela maneira, os jesuítas, os anarquistas... há toda essa panóplia humana que lá está armada.
Numa entrevista que deu há tempos, disse: «A literatura foi-me entregue, tenho o dever de a devolver sem estragos». Na sua perspectiva, que outros autores tratam bem a literatura portuguesa?
Eu não vou fazer agora uma enumeração de autores portugueses, mas há autores portugueses neste momento, jovens, por quem eu tenho uma grande estima e uma grande consideração. Se há alguma coisa que neste país tem brilho, é uma literatura secular. Porque o Fernão Lopes não é um escritor qualquer a nível europeu. Pode ser que seja traduzido ou não, isso não interessa porque não é a tradução que faz um grande escritor. O Padre António Vieira é qualquer coisa de enorme. Enorme. Gigantesco. O Pessoa. Não há muitos poetas como o Pessoa. E se calhar não há nenhum. O Eça é um dos grandes autores europeus do século XIX. O New York Times ignora o Eça. Lá estão as rãs voltadas umas para as outras, como no Aristófanes. Aliás, é curioso, Portugal aparece sempre mencionado quando há crises económicas. Mas as coisas interessantes e importantes de Portugal não existem, é como se estivessem ao pé do Egipto ou de um país obscuro. Isto para dizer que não vou dizer que temos uma grande literatura, mas para um pequeno país nós temos uma quantidade de autores notáveis, assinaláveis, que estabeleceram padrões. Neste século estou a pensar no Saramago. E podia falar do Brandão... E podia começar a desbobinar: Aquilino, Rodrigues Miguéis... há grandes autores. E portanto, se podemos exigir do leitor que responda a um autor, nós podemos exigir ao escritor que corresponda à literatura, que esteja ao seu nível, à sua altura. Não é fácil. Não se trata de imitar os outros. Às vezes até temos em vista, como horizonte. Mas estão lá autores de quem não gostamos. Não gostamos no sentido de não terem a ver com a nossa perspectiva de vida, com a nossa maneira de escrita, mas que reconhecemos como grandes escritores. E isso não pode deixar de ser considerado.
O meu amigo mencionou a pintura há bocado e os pintores é isso que fazem. O Manet lá vai buscar o Giorgione, lá vai buscar um Miguel Ângelo. E nós detectamos nos quadros as influências. E todos os pintores antigamente iam a Itália. Não era para se divertirem, era para estudar. Para ver. Agora, quando caem autores de pára-quedas que nunca ouviram falar em Aquilino Ribeiro, têm dificuldade em ler Aquilino, que acham que aquilo é difícil, que nunca passaram por uma Maria Velho da Costa, nem sequer folheando e apercebendo-se do mundo magnífico de língua e do tratamento de língua que está ali, o que é que nós podemos fazer? Não é aqui que está o futuro da literatura. Conhece uma autora chamada Corin Tellado?
Não...
Tem que ler. Eu escrevo-lhe aqui. Três mil romances. Um romance por semana, praticamente. Ela era tão prolífica que chegaram a pensar que ela tinha uma empresa. Não, era a senhora sozinha. Um romance por semana. É muito engraçado ver Corin Tellado porque não há nada que não seja um lugar-comum. Aquilo é que foram livros só escritos com banalidades, com vulgaridades. Mas a senhora foi tão intensa e escreveu durante tantos anos que até um autor como Vargas Llosa lhe vem prestar homenagem. É uma senhora que parece uma dona de casa. A história é sempre a mesma coisa: amores desencontrados. Mas há-de conhecer outra chamada Barbara Cartland. Essa vestia de cor-de-rosa e escrevia histórias sobre cavaleiros e diligências, isto no século XX. Morreu há pouco tempo. Sucessos tremendos, vendas que nunca mais acabavam. Isto é a anedota da literatura. Nós por graça às vezes até temos simpatia pelas pessoas. Só que Corin Tellado era aquilo que chamava, no século XIX, a literatura de sopeiras e guardas-portões. Era a literatura das pessoas coitadas que não tinham tido acesso à cultura e aquelas coisas, como a nossa Roda do Adro, eram aquelas coisas que faziam sentido. Não conheciam outras. Os livros vendiam-se em Portugal na Agência Portuguesa de Revistas com capa de papel. Eram livros baratos que se vendiam nos quiosques. Neste momento, esses livros de quiosques são os best-sellers que a imprensa está a promover. E não só a imprensa. As televisões. E como vê, na intervenção das televisões há uma degradação que é nítida. Do gosto e da intervenção cultural e do respeito pela cultura. É uma degradação muito acentuada que pode ter consequências bastante graves.
Mas, a Corin Tellado hoje, se calhar, estaria em todos os programas do senhor Rui Baião, porque esta é que era a autora que estava a dar.
Obrigado. Boa sorte para o seu livro, Mário de Carvalho
Mais entrevistasVoltar