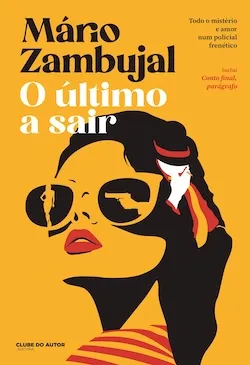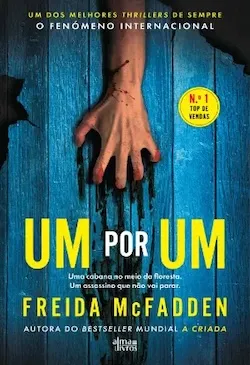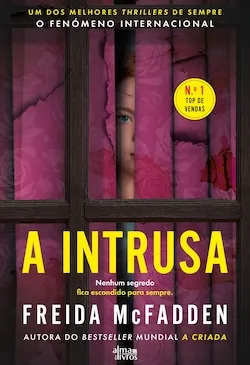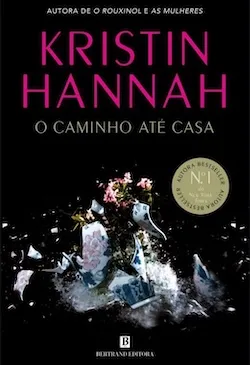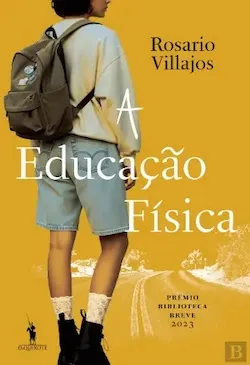A Opinião de Paula Mota
Não Dormir
por Paula Mota
2026-01-13Os que nasceram antes dos anos 1990 lembram-se do tédio. Para viver, era preciso sair do quarto a todo o custo. […] O tédio é substituído pela impaciência.
O verdadeiro sono dos justos é, decididamente, uma coisa complexa, frágil e mutável, e é sobre isso que discorre Marie Darrieussecq, de quem só tinha lido Estranhos Perfumes, uma das obras mais incómodas de horror corporal que habitam nas minhas estantes e que calculo que seja fruto de um pesadelo ou da sua mente insone.
Ocultando-se nas nossas águas furtadas, escondida debaixo dos nossos colchões, enfiada entre as ripas do tempo, de onde vem a insónia? Dos fantasmas? Do cérebro? Das dores da alma? Do mundo? Quem é que não dorme quando eu não durmo?
Não Dormir é um relato que abrange 20 anos de insónias, a busca de soluções através de tentativa e erro e noctívagas viagens pelos livros de outros insones, cujo patrono é Franz Kafka. Darrieussecq polvilha o seu texto com citações literárias…
A literatura é toda ela formada por paraísos perdidos e insónias. O erro dos insones é acreditar que se pode, não reencontrar o sono, não sonhemos, mas recuperar o sono perdido. Ora, o sono perdido nunca se recupera. O sono perdido, tal como o Paraíso, é uma Idade de Ouro e uma nostalgia.
…mas também referências cinematográficas e musicais, mais precisamente com os nomes daqueles que combateram insónias e outros demónios com a artilharia pesada:
Quantas estrelas morreram assim, na esperança de adormecer? Michael Jackson (Lorazepam e Propofol), Prince (Fentanil), Jimi Hendrix (álcool e 9 cápsulas de Seconal), Judy Garland (álcool e 10 cápsulas de Seconal)… E depois, puros produtos do matadouro hollywoodesco, um número infinito de starlettes.
Até lhe ser diagnosticada a hipervigilância por uma sonologista, Darrieussecq tentou todos os recursos pensáveis e impensáveis para invocar o sono: um cão para caminhadas, tisanas, acupunctura, osteopatia craniana, psicanálise, ioga, jejum, hipnose, álcool, ASMR, gravity blanket e outros métodos com nomes estranhos, dois casamentos (teve graça aí), a literatura (infalível comigo) e, obviamente, o álcool e os soporíferos. Obedecendo, então, a uma rígida higiene do sono que implica usar a cama com um único propósito e num único horário, a autora menciona um facto histórico que sempre achei curioso.
Na Idade Média […] as pessoas iam para a cama ao pôr-do-sol. Era a primeira noite. Acordavam algumas horas depois, acendiam o fogo, comiam, faziam amor, conversavam. Depois, tornavam a adormecer para a segunda noite. Era um ritmo normal.
Não Dormir é uma obra bem pensada e consubstanciada, ainda que pudesse ser mais curta, já que a inclusão dos últimos capítulos parece um tanto forçada. Abordando causas (muito meritórias) que lhe são caras também por formação, visto que é psicanalista, aborda o assunto do sono em situações de sem-abrigo e de trauma, bem como os problemas que podem tirar-nos o sono, como a nossa relação predatória com os outros seres vivos.
É preciso amar profundamente a Capela Sistina, a Pirâmide de Quéops e o som de Coltrane e o traço de Shi Tao e toda a literatura para continuar a amar os homens. […] E não nos tira um pouquinho o sono dispor dos animais como objectos? Ou fingir que há nós e os outros? Não nos impede isso de dormir, de agir como se eles não existissem?
Não Dormir, de Marie Darrieussecq, Livros Zigurate, Julho de 2025, tradução de Diogo Paiva
Quem Matou o Meu Pai
por Paula Mota
2025-12-09Hollande, Valls, El Khomri, Hirsch, Sarkozy, Macron, Bertrand, Chirac. A história do teu sofrimento tem nomes. A história da tua vida é a história dessas pessoas que se foram sucedendo para te abater. A história do teu corpo é a história desses nomes para o destruir. A história do teu corpo acusa a história política.
Se Édouard Louis tem como cartão-de-visita a frase “toda a minha escrita é política”, não é de admirar que não tenha pejo em apontar o dedo a presidentes e ministros franceses, tanto à esquerda como à direita, pela debilidade física, psicológica e até moral do seu pai.
Já não podes conduzir, já não te é permitido beber álcool, já não consegues tomar banho ou ir trabalhar sem correres um enorme risco. Tens pouco mais de 50 anos. Pertences àquela categoria de seres humanos a quem a política reserva uma morte precoce.
Quem Matou o Meu Pai foi publicado um ano depois de um artigo que surgiu na primeira página do “New York Times”, na véspera das eleições presidenciais francesas de 2017, “Why My Father Votes for Le Pen” [“Por que Razão o Meu Pai Vota em Le Pen”].
Sabia pelos livros dedicados à mãe que Louis escreveu mais recentemente que a relação com os pais até sair de casa aos 16 anos, para ir estudar noutra localidade, foi complexa e tensa, sobretudo por o considerarem efeminado, mas ainda mais conflituosa com o pai, que era um alcoólico, um pequeno déspota no seio da família e um exemplo acabado da masculinidade tóxica.
A masculinidade - não te comportes como uma rapariga, não sejas paneleiro - equivalia a sair da escola o mais depressa possível para se provar aos outros que se era forte, o mais cedo possível para se mostrar que se era insubmisso, e, portanto, pelo menos é o que deduzo, ao construir-se a própria masculinidade era-se privado de uma outra vida, de um outro futuro, de um destino social diferente que os estudos poderiam tornar possível. A masculinidade condenou-te à pobreza, à falta de dinheiro. Ódio da homossexualidade = pobreza.
Talvez por se ter munido de outras ferramentas, como os amigos que formam agora a sua nova família e o curso de Sociologia que lhe expandiu os horizontes, talvez por se ter conseguido realizar profissional e pessoalmente, talvez por ter percebido que não é a única vítima do sistema, tenha conseguido sublimar o seu rancor e substituir parte dele pelo afecto que algumas pessoas maltratadas conseguem recuperar pelos pais quando chegam a adultos. Um dos mecanismos de que Louis se socorreu foi, sem dúvida, o redireccionar a sua raiva do indivíduo para o Estado.
A tua vida prova que não somos o que fazemos, mas que, pelo contrário, somos o que não fazemos porque o mundo ou a sociedade nos impediram. Porque aquilo a que Didier Eribon chama “vereditos” se abateu sobre nós – gays, transexuais, mulheres, negros, pobres -, e fez com que certas vidas, certas experiências, certos sonhos se nos tornassem inacessíveis.
Quem Matou o Meu Pai, de Édouard Louis, Elsinore, Setembro de 2025, Tradução de Luísa Benvinda Álvares
Transgressões
por Paula Mota
2025-11-24Apesar da minha paixão assolapada pela Irlanda e pelos autores desse país, demorei algum tempo a ceder à leitura deste livro, mesmo abordando uma das épocas que me atrai como um íman, os Troubles, o conflito que grassou entre protestantes e católicos, na segunda metade do século XX, na Irlanda do Norte.
Rebentou uma bomba em Belfast, anunciou.
Ele diz isto todos os dias, comentou o Jonathan, que se sentava ao lado dele. Pois, e hoje é verdade. Obrigada, Davy, rematou Cushla.
Jonathan levantou-se. Não foi em Belfast, declarou. Foi uma bomba-relógio destinada a uma patrulha a pé do Exército Britânico que explodiu antes do tempo, matando dois rapazes junto à fronteira. Os rapazes tiveram morte instantânea.
Bomba-relógio. Dispositivo incendiário. Gelenhite. Nitroglicerina. Bomba de petróleo. Balas de borracha. Carro de combate. Detenção. A Lei das Competências Especiais. Vanguarda. Era este o vocabulário das crianças de sete anos.
“Transgressões” tem no seu âmago a relação de uma jovem professora católica com um homem mais velho, protestante e casado, e era isso que, de facto, me afastava desta obra, o cliché explorado na ficção como se fosse novidade. Só que Cushla é uma protagonista magnífica, com um sentido de justiça muito apurado, e Louise Kennedy não permite que ela seja definida pela sua história de amor, se é realmente disso que se trata naqueles encontros clandestinos na garçonnière de Michael Agnew e naquele sexo patético à la Sally Rooney.
O caso entre estas duas pessoas de mundos em constante conflito no Ulster está enquadrado pela cena inicial, que decorre num museu em 2015, em que vemos uma Cushla envelhecida a encontrar-se inesperadamente com alguém cuja identidade só é revelada no capítulo final, num desfecho confrangedor que dá conta que as boas intenções podem trazer consequências inesperadamente nefastas.
“Transgressões” é muito mais do que uma obra sobre um amor proibido, pois ao existir num ambiente de cortar à faca, em que a população católica tem de conviver com o invasor protestante, sucedem-se os episódios de subjugação e de humilhação de uma comunidade, em que se reúnem as condições perfeitas para a revolta e para o terrorismo. Seja na Europa, no Médio Oriente, ou noutro local do mundo onde a autodeterminação é uma impossibilidade, é fácil perceber também aqui como são os jovens recrutados por movimentos independentistas.
Valha-me Deus, exclamou Cushla. Quer dizer que ele ia apenas a andar pela rua?
Nesta cidade, o relevante não é o que a pessoa faz, é o que a pessoa é, fez-lhe notar ele.
Cushla contou-lhe o que estava escrito no muro [“Fora com os católicos”], que os vizinhos lhes atiravam fezes. Contou-lhe que os colegas se metiam com Davy porque a roupa dele cheirava a fritos, que, para o miúdo, o facto de o pai ter arranjado trabalho era uma notícia.
Transgressões, de Louise Kennedy, Porto Editora, Março de 2025, tradução de Maria José Figueiredo
O Sentido da Náusea
por Paula Mota
2025-11-01Os seus espasmos vinham sozinhos, voluntariosos, como se regressassem a casa. Eu não precisava de enfiar os dedos na garganta, porque vomitava com a cabeça, não com o estômago. Um vómito inteligente.
Michela Murgia foi uma escritora muito completa e audaciosa, intensa no romance (“Acabadora”), frontal na não-ficção (“Ave Mary”) e, com a leitura de “O Sentido da Náusea”, comprovo a sua lucidez e capacidade de empatia nos contos. Digo “foi” porque Murgia morreu em 2023 devido a um carcinoma renal, tendo concluído o seu derradeiro livro, publicado postumamente, três dias antes da sua morte. Mesmo com a sentença de morte já passada, a autora e activista não deixou de provar que era uma mulher de fibra em relação não só à doença, mas também ao panorama político no seu país.
«A escritora disse ainda que "a guerra pressupõe perdedores e vencedores" e, como já sabe o final da história, não se sente uma perdedora. "Tanto faz se não me sobrar muito tempo: o importante para mim agora é não morrer fascista", declara Murgia, que se define como de esquerda. Por fim, a italiana enfatizou que não tem medo da morte, mas espera morrer somente quando Giorgia Meloni deixar de ser a primeira-ministra da Itália, porque o seu governo é fascista.»
Fiquei ainda mais impressionada com a força de Murgia quando percebi o carácter autobiográfico do primeiro conto, “Expressão Intraduzível”, onde introduziu a sua experiência com um tratamento de imunoterapia, bem como a visão que assumiu publicamente de o cancro ser uma parte de si e não um inimigo a combater.
A culpa era do médico, obviamente. As palavras que aquele homem tinha usado alteravam o cenário simbólico e obrigavam-na a mover-se em direção a um objetivo que não lhe era familiar: o pacto de não-beligerância. O que devia ser um adversário a destruir acabara de lhe ser descrito com um cúmplice da sua complexidade, uma parte desorientada do seu corpo sofisticado, um curto-circuito do sistema em evolução, nada mais do que um companheiro a enganar-se. Não estava habituada a perder com as palavras. Qualquer batalha que tivesse imaginado travar contra a doença soava agora como um projeto de autodestruição. Não tinha forças nem vontade de entrar em guerra consigo mesma.
Ao abdicar-se na versão portuguesa do título original deste conjunto de histórias,"Tre Ciotole, Rituali per un anno di crisi", perde-se o fio condutor das mesmas, pois o que as une é a ideia de se chegar a um limite ou um ponto de viragem devido a alguma situação trágica ou de tensão, como a pandemia, a morte, uma amizade tóxica, o fim de um relacionamento ou a síndrome do ninho vazio.
Tens de compreendê-lo, disseram-me, está desorientado, já não te reconhece, estás sempre nervosa, descarregas nele. Toma as gotas para a menopausa e aproxima-te dele, coitadinho, já fez tanto. Esse “tanto” deve ser ele ter casado comigo embora eu já tivesse um filho, e é por essa graça, imagino, que o facto de eu estar em sofrimento só importa porque o faz sofrer a ele. Não dou ouvidos a estas tolices. Elas que tomem as gotas, que façam terapia para processar as emoções, que se inscrevam no ioga ou em cursos de iquebana, que marquem sessões de acupuntura, que se convertam ao budismo, que engulam todos os comprimidos que queiram, nunca as julguei por nenhuma das suas anestesias.
- Boneco Animado –
Além destas crises pessoais que afectam os protagonistas, Murgia ainda consegue unir alguns dos contos com participações especiais de algumas personagens em enredos alheios, sendo isso evidente e muito bem conseguido na dupla “O Sentido da Náusea/Recalcular a Rota”, em que, primeiro, conhecemos uma mulher que perde peso a olhos vistos porque desde que o namorado a deixou ganhou aversão à comida…
Continuei a aprender com o vómito e as suas razões. Por exemplo, aprendi que as coisas que não se podem esconder não são três, mas quatro: um espirro, a beleza, a pobreza e o facto de que alguém é um merdas.
…e, em seguida, lemos a perspectiva do “merdas”, que pede a um amigo que lhe faça um mapa para poder navegar na cidade sem o risco constrangedor de poder reencontrá-la.
Estava certo de a ter deixado porque já não a amava, mas amara-a o suficiente para compreender que as recordações são mais persistentes do que as pessoas. A verdadeira armadilha era a memória, não o amor. Havia lugares a que não ia só porque aí se lembrava de a ter lembrado.
O Sentido da Náusea, de Michela Murgia, Elsinore, Junho de 2025, tradução de Ana Cláudia Santos
Como Animais, de Violaine Bérot
por Paula Mota
2025-10-14Depois dos Pirenéus espanhóis de Irene Solà em Eu Canto e a Montanha Dança, chega Violaine Bérot, que se refugiou no lado francês dessa cadeia montanhosa quando tinha 30 anos.
Como Animais tem no seu cerne uma espécie de parábola contada através de um conjunto de depoimentos prestados à Polícia, com uma componente de tragédia grega dada pela existência de um coro, que permite a esta obra escrita num estilo coloquial passar uma mensagem vigorosa e inequívoca: quem se comporta como um animal, afinal?
Não, não estou a idealizar. Mas, para o senhor, que veio da cidade, isto não é fácil de compreender. Já não vê grande relação entre os animais e os humanos. Suspeito que tudo isso já não seja o seu mundo.
Ao povoado de Ourdouch afluem polícias e jornalistas depois de um caminhante ter sido atacado por um jovem eremita conhecido por Urso, que se fazia acompanhar por uma menina, ao que tudo indica, selvagem. Ao longo de 14 entrevistas recolhidas pelo comissário encarregue da investigação, juntam-se as peças do quebra-cabeças que permitem ao leitor perceber quem é este jovem e a sua reservada mãe, como se isolaram numa cabana de difícil acesso nas montanhas e qual é a sua rede de subsistência. Começando pela professora primária, que nos dá a perceber que o rapaz está provavelmente no espectro do autismo…
Se o deixássemos ao fundo, sozinho, se o esquecêssemos - enfim, quero dizer, se procedêssemos como se o tivéssemos esquecido -, era mais fácil. A verdade é que podíamos perfeitamente tê-lo esquecido. Ele não fazia barulho, não falava. Nunca falou. Penso que era de nascença.
…até às declarações da mãe desesperada…
É que me explicaram, era ele recém-nascido, que seria psiquicamente muito atrasado e que, por isso, teria de ser seguido toda a vida. Vivíamos na cidade, tudo o fazia gritar, o ruído dos motores e das buzinas […]. Se ouvia o canto de um pássaro, sorria. […] Foi por isso que viemos embora. Porque percebi que fechá-lo num hospital, digam os especialistas o que disserem, não era solução. […] Tinha necessidade de liberdade, e a professora propunha-me o contrário, fechá-lo.
…passam pelos nossos olhos os interrogatórios realizados a vizinhos, ao carteiro, a um caçador, a turistas, a pastores e, num desfecho dilacerante, à farmacêutica, pintando no geral uma imagem de tolerância e respeito pela diferença, desmistificando preconceitos infundados.
Ao observarmos a miúda que ele protegia, tínhamos invadido de novo o seu território, estávamos em falta, cabia-nos a nós sair dali. Reagimos simplesmente como diante de um animal selvagem que defende a sua cria. Ora, não podemos recriminar um animal por ter instinto, não é verdade?
E no discurso dos habitantes, as constantes referências a esse coro grego que são as fadas, a lenda local que até os mais cépticos reproduzem.
Os velhos insistem nessa tecla. As fadas, se tivermos a infelicidade de lhes tirar uma criança, tornam-se piores do que as bruxas. Dizem que o que se vai passar será terrível, que a aldeia nunca recuperará da maldição. Estou a repetir-lhe aquilo que oiço. Para eles, é preciso libertar o Urso e levar de novo a criança para a gruta.
Bérot leva-nos a meditar sobre o nosso lado animal: o que tem de primordial, como o cérebro reptiliano que nos traz o instinto de sobrevivência; e o que tem de brutal, quando nos deixamos levar pelos impulsos mais irracionais. Como Animais não precisa de muitas palavras elogiosas, tal como não precisa de muitas páginas para meter o dedo na ferida, por isso, é preferível o salto no escuro. Não se arrependerão.
Nós
as fadas
adivinhamos
o que pode significar
no mundo de baixo
ser menina
ser rapariga
ser mulher.
Como Animais, de Violaine Bérot, Antígona, Junho de 2025, tradução de Luís Leitão
Porque escrevo
por Paula Mota
2025-09-23A opinião de que a arte nada deve ter a ver com a política é em si uma atitude política.
A escrever do outro lado do Canal da Mancha sensivelmente na mesma época, Orwell mostra outra faceta da icónica frase de Simone de Beauvoir: “O pessoal é político.” E dos quatro motivos apresentados pelo autor britânico, parece ser o propósito político aquele que levava a primazia quando decidia escrever. Dado ao prelo um ano após o término da Segunda Guerra Mundial e da publicação de A Quinta dos Animais, o seu célebre libelo contra o estalinismo, como poderia o autor não ter, antes de mais, um olhar político sobre o que o rodeava?
Numa época pacífica poderia ter escrito livros ornamentais ou meramente descritivos, e poderia ter ficado quase sem ter consciência das minhas convicções políticas. Mas fui forçado a tornar-me uma espécie de panfletário.
Orwell conta em Porque Escrevo como o facto de ser uma criança solitária lhe estimulou a veia literária que, embora tenha tentado reprimir durante parte da juventude, ganhou força com a sua experiência na Polícia Imperial Indiana, nos tempos de penúria em Londres e Paris e na vivência como combatente voluntário na Guerra Civil Espanhola ao lado dos Republicanos.
O meu ponto de partida é sempre um sentimento de militantismo, um sentido de injustiça. Quando me sento para escrever um livro, não digo a mim mesmo: “Vou produzir uma obra de arte”. Escrevo porque há uma mentira qualquer que quero denunciar, um facto qualquer para que quero chamar a atenção.
Não obstante a preponderância da sua consciência social, Orwell afirmava escrever também por puro egoísmo, por impulso histórico e por entusiasmo estético, o qual me parece ser ainda um chamamento muito forte na sua obra.
Não sou capaz de abandonar completamente, nem quero, a mundividência que adquiri na juventude. Enquanto estiver vivo e de boa saúde continuarei a ter fortes sentimentos quanto ao estilo de prosa, amar a superfície da Terra e a retirar prazer de objectos concretos e de pedaços de informação inútil.
Que pena ter tido apenas 47 anos para pôr em prática esse programa de vida tão decente.
Porque Escrevo, de George Orwell, Relógio d’Água, Agosto de 2005, tradução de José Miguel Silva
O Outro Lado dos Livros
por Paula Mota
2025-09-05Quando se leem memórias, há que ter em conta que o respetivo autor pode inconscientemente fantasiar sobre aquilo que recorda ou esquecer episódios que para outros foram determinantes. Felizmente, há um texto judaico que diz que “se não soubermos esquecer, nunca estaremos livres da tristeza”.
Manuel Alberto Valente, de quem já conhecia a poesia, foi editor em várias chancelas de renome, como Dom Quixote, Asa e Porto Editora, onde conheceu e, como ele próprio refere, lidou com o ego de muitos escritores portugueses e estrangeiros, alguns muito famosos, outros mais irreverentes, como Carmen Posadas que, para afugentar a exagerada atenção masculina nas Correntes d’Escritas avisou de imediato que não gostava de intelectuais e que preferia camionistas musculados, ou como Marie Darrieussecq, que abandonou um jantar dado pelo embaixador francês em Lisboa porque estava mais interessada em conhecer o Bairro Alto.
O Outro Lado dos Livros surge como uma compilação de crónicas publicadas na “Revista do Expresso” durante quase dois anos, as quais, por uma lógica qualquer que me escapa, não são apresentadas por ordem cronológica, o que provoca absurdos temporais como, por exemplo, falar de Milan Kundera ora como autor morto, ora como candidato ao Prémio Nobel, sem sequer uma nota de contextualização. Com a excepção dessa pequena irritação, trata-se de uma leitura muito agradável para quem goste de fait divers e bisbilhotices sobre escritores/escritoras, uma espécie de cedência possível à imprensa cor-de-rosa para snobs literárias como eu, ainda que contenha reflexões muito pertinentes sobre o mercado editorial ao longo das décadas.
Quando, nos anos 80, publicámos na Dom Quixote A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera, decorreu uma eternidade entre o momento em que soubemos do livro e a assinatura do contrato que nos permitia a sua tradução. […] Carta para lá, carta para cá, quase um mês depois chegou-nos a informação de que, em correio separado, o livro estava a caminho. Quando chegou, demo-nos o tempo necessário para uma leitura consistente […]. Carta para lá, carta para cá, o contrato foi assinado tinham decorrido praticamente seis meses. […] A prática é hoje habitual: receber-se por e-mail um original e, meia dúzia de horas depois, chegar um novo e-mail a informar que já há uma oferta portuguesa.
Se esta situação aponta para os muitos tiros ao lado que surgem nas livrarias portuguesas, também a ausência de uma exigente caneta vermelha na mão dos editores explica a falta de filtros que noto em muita da má ficção nacional.
Tais provas [de Paul Auster] vinham anotadas a tinta vermelha pelo seu editor americano; e, quando digo anotadas, quero dizer com longos excertos cortados, pontos de interrogação por todo o lado e comentários que ajudariam o autor a resolver melhor certas passagens. Habituado à prática então vigente em Portugal de que não se podia mexer nos textos de um autor consagrado, nem sequer tive coragem de transmitir o meu espanto.
Estas memórias de um editor com forte sotaque do Norte - formado em Direito mas com o coração nos livros, que se desenvencilha melhor em francês do que em inglês, que evita andar de avião até mesmo em trabalho e que é casado com a também editora e poetisa Maria Rosário Pedreira, o que dá origem a uma casa forrada de livros muitas vezes em duplicado - estão recheadas de episódios divertidos, mas reflectem também o panorama social e cultural de Portugal nas últimas décadas.
Figuras recorrentes nestas crónicas, de quem fala com uma saudade imensa, são Rosinha (Rosa Lobato de Faria) e Lucho (Luis Sepúlveda), sendo os episódios mais caricatos aqueles que se relacionam com jantaradas, com destaque para as caras de bacalhau para Julian Barnes e o linguado grelhado para Paul Auster. Especialmente bonita é a passagem sobre a posição digna de Amos Oz, que vale a pena recordar agora, em pleno genocídio.
Amos Oz combateu na Guerra dos Seis Dias e na Guerra do Yom-Kippur e, talvez por isso, foi um dos fundadores do movimento Paz Agora, que defendia a solução de dois estados (israelita e palestiniano) convivendo pacificamente lado a lado. Ele sabia que não seria fácil: numa entrevista que deu em 2014 […] dizia: “A ansiada paz não deve ser entendida como uma lua-de-mel, mas como um divórcio justo, similar ao de checos e eslovacos.” Lutou por isso até ao fim da vida e morreu sem ver esse sonho concretizado.
O Outro Lado dos Livros - Memórias de um Editor, de Manuel Alberto Valente,Quetzal, Maio de 2025
Artigo 353
por Paula Mota
2025-07-08O rosto cada vez mais ilegível, como se agora me tivesse deixado a sós com a palavra, com a desordem da palavra e mil pensamentos embocassem num funil cujas leis internas de selecção ele tentava compreender.
De início, “Artigo 353” não estava a prender-me pelo seu estilo expositivo. Recorrendo a um huis clos muito semelhante ao de “O Quarto Azul” de Georges Simenon, vemos Kremeur, antigo operário do arsenal de Brest, a prestar declarações a um juiz de instrução pelo crime de que nos dá conta nas primeiras páginas.
Por vezes, o juiz, quando me olhava, quase se diria que tinha um machete nos olhos e que, com ele, abria caminho dentro de mim, como se visasse um ponto central que eu próprio não conhecia, qualquer coisa a que simplesmente teria chamado “os factos” e porque pensava que no interior destes “factos” estava a verdade. Como se ela, a verdade, viesse à superfície por si própria, seca e sem rugas.
Em traços largos, já que se trata de uma obra muito breve, um dia chega a uma pequena cidade estagnada do litoral da Bretanha um especulador imobiliário, o típico pato-bravo…
Talvez baste um tipo chegar com bastante energia e um livro de cheques mais gordo do que a média para que toda a gente diga que é ele o enviado de não se sabe que deus para nos tirar do pântano.
…que com falinhas mansas e um projecto de encher o olho, convence meio mundo a investir num empreendimento que, passada meia dúzia de anos, não passara ainda do papel. Com o avançar do relato sobre esta “banal história de vigarice”, “Artigo 353” começa a tornar-se mais introspectivo e com uma prosa mais reflexiva e estilisticamente interessante. Sempre na primeira pessoa, Kremeur transmite a frustração que sente e tenta disfarçar fechando-se sobre si mesmo, de como isso criou uma barreira entre ele e o filho, que cresceu e se foi apercebendo do mal provocado por esse forasteiro que exibe mais sinais de riqueza a cada dia que passa.
E então, lá no fundo, descobre a única coisa que necessariamente o preocupa: que o pai dele sou eu e só eu. É isso que descobrimos aos 18 ou 20 anos. Que teremos o mesmo pai toda a vida. Que passaremos toda a vida com os mesmos fantasmas. Os mesmos cantores de rádio. Os mesmos políticos. A mesma infância às costas.
É só quando o jovem comete um acto tresloucado de vingança que Kremeur decide fazer justiça pelas próprias mãos, pois “nem sempre podemos esperar séculos por uma qualquer justiça natural que se calhar nunca chegará”.
É um revoltante caso de toda uma população ludibriada por um homem sem escrúpulos que o juiz, que em toda a narrativa mostra ser uma pessoa empática, tem em mãos; mas é na lei, no artigo para que aponta o título do livro de Tanguy Viel, e não no crime, que se encontra o desenlace desta obra. O artigo 353 não existe no código penal francês, mas interpreto-o como o símbolo da subjectividade e controvérsia de muitos veredictos que, por vezes, parecem depender da vontade e da capacidade de alguns interpretarem as leis como lhes convém. Aquele que parece ser potencialmente um final feliz, dependendo do nosso sentido de justiça, é também matéria para cogitação.
E o facto é que certas pessoas são desprovidas disso, como outras nascem sem um braço, outras nascem com atrofia de, não sei, de…
E o juiz disse: De humanidade?
Sim, no fundo talvez seja isso, de humanidade.
Artigo 353, de Tanguy Viel, Antígona, Maio de 2024, tradução de Luís Leitão
O Desencanto
por Paula Mota
2025-06-25Fake it até que as pessoas te deixem em paz. Não podemos mudar o mundo, apenas tentar que o mundo não nos mude demasiado.
Não tenho problemas em confessar que desconfio sempre de escritores que vêm do jornalismo, apesar de algumas boas surpresas, sobretudo pela tendência para explorarem a contemporaneidade, o que vai bem com a lei do menor esforço, mas Beatriz Serrano toma o pulso à sociedade actual, a do digital, a do capitalismo, a da saúde mental frágil, a do consumismo desenfreado e do mercado de trabalho doentio. Neste zeitgeist que bem conhecemos, temos Marisa, de 32 anos, solteira, com um amigo colorido, que trabalha mais do que contrariada numa agência de publicidade há oito anos, que sofre de ataques de ansiedade e de choro mal o despertador toca de manhã e que tenta anestesiar-se com tranquilizantes.
Sei que o mundo seria um lugar melhor se não existissem trabalhos como o meu. Sei que me aproveito das inseguranças das pessoas e da sua vontade de prosperar numa sociedade em que não se pode melhorar. E sei disso porque eu própria, depois de uma jornada de 8 horas e várias conversas de elevador que me provocaram uma série de ideações suicidas de baixa intensidade […], acredito com frequência que a solução para todos os meus problemas está feita à minha medida num vestido florido da Zara fabricado no Bangladesh.
Não espanta, portanto, que o seu mantra seja “Heaven knows I’m miserable now” dos Smiths.
Morrissey cantava sobre a insatisfação que os trabalhos de merda provocam e a obrigação de pagar faturas, sobre a alienação que as horas no escritório causam e o pouco tempo para desfrutar dos verdadeiros prazeres da vida. À medida que fui crescendo, amadurecendo e trabalhando, a canção tinha em mim um efeito balsâmico e curativo, como quem ouve cantos gregorianos.
Marisa odeia tanto a sua profissão que o ponto alto do seu dia é imaginar acidentes que poderia sofrer para ficar uma temporada de baixa médica ou mesmo incapacitada. É humor negro que escorre destas páginas, mas, como se costuma dizer, a brincar se dizem as verdades, e “O Desencanto” tem tanto de exasperante como de lúcido, até para os que “se julgam a ovelha mais esperta do rebanho”. Esta autora espanhola compôs uma personagem hilariantemente descompensada que vai ficar na minha galeria das preferidas pelo que diz, pelo que pensa e pelo que ouve e processa com um sarcasmo perfeito.
Põem-me sempre a trabalhar nos projetos que incluem a palavra ‘empoderamento’ e perguntam-me se determinada frase de determinado anúncio pode ser ou não machista. Perguntam-me sempre se um tema poderia “incomodar as mulheres”, como se as conhecesse a todas. […] Pensam que sou a sua Mary Wollstonecraft particular, sempre de serviço para lhes tirar as dúvidas.
Quando a sanidade de Marisa já está presa por um fio e pensa que não há nada pior do que trabalhar com gente desmiolada e hipócrita, engolindo ansiolíticos como Smarties e trocando a terapia por visitas ao Museu do Prado, onde contempla o quadro de Hieronymus Bosch, recebe a notícia de uma iminente viagem de team building, que se revelará a gota de água.
A empresa como família. A ideia de que os nossos colegas de trabalho são algo mais do que colegas de trabalho para que nos custe horrores levantarmo-nos da nossa cadeira às 6 da tarde porque sentimos que estamos a abandonar o nosso irmão mais novo numa bomba de gasolina. Como não tenho filhos nem pais doentes e fui apanhada tão de surpresa que nem tive tempo de inventar uma doença rara, sou obrigada a ir.
Quer tenham um emprego que odeiem ou adorem, quer tenham um emprego em que se sintam com um hamster na roda ou tenham liberdade de horário, este livro é para vocês… se tiverem uma ponta de cinismo que seja. Se não tiverem, sorte a vossa, a vida tem-vos tratado bem.
Afinal, precisamos de poucas coisas na vida: alguém que nos ame, uma cama com grandes almofadões, umas latas de cerveja bem frescas e uns tomates que saibam a alguma coisa.
O Desencanto, de Beatriz Serrano, Bertrand Editora, Outubro de 2024, tradução de Rita Custódio.
Mudar de Ideias
por Paula Mota
2025-06-11Não creio que, aos 65, sejamos leitores mais inteligentes do que aos 25; apenas e tão-somente mais subtis, bem como mais capazes de estabelecer comparações com outros livros e outros escritores, tendo como pano de fundo o acréscimo de conhecimento adquirido com o acréscimo de vida.
Como diz o nosso Camões, “Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades”, mas mudar de ideias é falta de carácter ou é prova de adaptabilidade? Nós mudamos de ideias ou são as ideias que nos mudam a nós? Neste charmoso conjunto de ensaios sobre a mutabilidade, uma das primeiras citações de Julian Barnes aponta para o dadaísta Francis Picabia: “As nossas cabeças são redondas para que as nossas ideias possam mudar de direção”, o que sugere de imediato que a inconstância faz parte da natureza humana.
Dividido em cinco temas, Memórias, Palavras, Política, Livros, Idade e Tempo, Barnes expõe neste “Mudar de Ideias” os seus pensamentos e dá exemplos de como tem mudado de ideias ao longo de quase 80 anos de vida, com a típica fleuma britânica, parecendo uma pessoa moderada e razoável nos seus pareceres, mas rematando inesperada e contundentemente que tem “opiniões fortes fortemente sustentadas”, como convém que seja.
E como não ter opiniões fortes se temos consciência do que nos rodeia? Isso torna-se flagrante no capítulo Política que, embora enverede demasiado pelas eleições locais para quem não é britânico, permite ao autor deixar bem clara a sua ideologia e mundividência, aquela que aplicaria na República Benigna de Barnes, para a qual me mudaria já.
Imediata candidatura a regressar à União Europeia, autorização dada à Escócia para fazer o referendo sobre a independência, se os escoceses assim entenderem; encorajamento à ilha da Irlanda para se reunificar. […] Pelo menos um dos palácios reais seria transformado em museu dedicado à memória do tráfico de escravos, com uma completa explicação dos proventos gerados e dos beneficiários. A educação (e re-educação, re-re-educação) dos homens na juventude para fazer diminuir a violência e a coerção sobre as mulheres.
Na secção dedicada às palavras, identifiquei-me com a indignação de Barnes em relação à forma como os falantes assassinam a língua e, tal como ele, partilho com Evelyn Waugh “a ânsia senil de escrever cartas aos jornais” quando isso acontece. A parte sobre os livros é talvez a que ressoe mais fortemente nos leitores, ainda que a das Memórias permita o cruzamento com obras de ficção deste escritor:
Sabemos que a memória se degrada. Acabamos por perceber que a cada vez que a recordação é tirada do cacifo e exposta estamos a fazer-lhe uma alteração minúscula. E por isso as histórias que, na maior parte dos casos, contamos sobre as nossas vidas são provavelmente menos fiáveis, porque as fomos subtilmente emendando sempre que as contávamos ao longo dos anos.
Então, se “todo o mundo é composto de mudança”, não há nada a que Julian Barnes se mantenha ainda fiel? Claro que muitas das suas convicções se mantêm, mas delas cito a minha preferida:
À primazia da arte e à convicção de que a literatura corresponde ao melhor sistema que temos para compreender o mundo.
Mudar de Ideias, de Julian Barnes, Quetzal, Maio de 2025, tradução de Salvato Teles de Menezes
A Praça do Diamante
por Paula Mota
2025-05-15Em casa vivíamos sem palavras e as coisas que eu tinha dentro faziam-me medo porque não sabia se eram minhas…
Mercè Rodoreda (1908-1983) admirava Katherine Mansfield, Virginia Woolf, Marcel Proust e James Joyce, e isso é flagrante tanto no estilo modernista da escrita, como no uso de certos leitmotives e na urdidura da vida interior das personagens.
A minha mãe nunca me falara nos homens. Ela e o meu pai tinham passado inúmeros anos a discutir e muitos anos sem dizerem nada um ao outro. Passavam as tardes de domingo sentados na sala de jantar sem se falarem. Quando a minha mãe morreu, este viver sem palavras ainda se acentuou mais. E quando ao fim de alguns anos o meu pai voltou a casar, não havia, em minha casa, nada a que eu pudesse agarrar-me. Vivia como deve viver um gato: de um lado para o outro, com a cauda baixa, com a cauda levantada, agora são horas de ter fome, agora são horas de ter sono, com a diferença de que um gato não tem de trabalhar para viver.
“A Praça do Diamante” é um livro complexo e profundo de uma autora paradoxal que me suscitou várias dúvidas. Devemos levar as declarações de um escritor à letra ou ignorá-las interpretando uma obra a nosso bel-prazer? Vale mais o percurso ou o discurso de um escritor? Quando devemos parar de ler nas entrelinhas de um texto só para satisfazer a nossa tese? Apesar de ser considerada protofeminista por alguns, Mercè Rodoreda deixou a sua posição bem clara:
“Acho que o feminismo é como o sarampo. Na época das sufragistas tinha um sentido, mas na época atual, onde todos fazem o que quiserem, acho que o feminismo não tem sentido.”
E, no entanto, há tanto na sua vida e na leitura de “A Praça do Diamante” que contradiz este seu comentário. Com apenas 20 anos, Mercè casou com o seu tio, de quem teve um filho, tendo pouco depois retomado os estudos e começado a escrever com o intuito de se tornar autossuficiente. Em 1939, dois anos depois de se ter separado do marido, com a derrota dos republicanos, para os quais trabalhara como revisora de catalão, optou pelo exílio até 1972, tendo deixado o filho aos cuidados da avó.
Se se torna difícil ignorar a problemática do casamento e da maternidade na biografia desta mulher independente e determinada, não há como contornar a forma como estas duas instituições são postas em causa em “A Praça do Diamante”. Desde o primeiro encontro, quando Quimet decide unilateralmente que a protagonista será sua mulher, passando por cada interacção no namoro e atitude na vida de recém-casados, tudo aponta para a submissão de Natalia…
Disse-me que se queria ser sua mulher tinha de começar a achar bem tudo o que ele achasse bem. Fez-me um grande sermão sobre o homem e a mulher e os direitos de um e do outro e quando consegui interrompê-lo perguntei-lhe:
- E se não gostar mesmo nada de uma coisa?
- Tens de gostar, porque tu não percebes.
…que culmina na anulação da sua identidade ao passar a chamar-lhe Pombinha, pois Quimet desenvolve uma obsessão tal com estas aves que acaba por transformar o apartamento do casal num autêntico pombal onde, a dada altura, vivem 80 pombos. Visto que o dinheiro que o marido ganha como marceneiro e com o eventual negócio dos pombos não é o suficiente para o sustento do casal e dos seus dois filhos, Natalia vê-se obrigada a fazer limpezas por fora, até que o marido se junta aos milicianos durante a guerra civil espanhola e a situação se torna dramática.
Seria neste ponto da narrativa que teria de concordar com o desprezo de Rodoreda pelo feminismo. Natalia é uma personagem totalmente passiva, a quem a vontade alheia é imposta sem que ela lhe ofereça muita resistência, que anda à mercê dos homens; o primeiro que é a sua perdição e o segundo que é a sua salvação. Há, porém, alguma rebeldia fatalista nesta mulher que, acossada pela força das circunstâncias, tende a agir como um anjo da morte, tanto em relação aos pombos como aos próprios filhos.
Essa pulsão de morte acompanha a protagonista até ao final no que parece ser uma espiral de loucura, na qual ela entra e sai em passagens de cortar a respiração.
Virei-me de costas para a porta e descansei e havia muita escuridão dentro de mim. E virei-me outra vez de frente para a porta e com letras de imprensa escrevi Pombinha bem gravado e, sem saber como, comecei a andar e eram as paredes que me conduziam e não os passos e entrei na Praça de Diamante. […] E com os braços a tapar a cara para evitar não sei bem o quê, soltei um grito infernal. Um grito que devia haver muitos anos que trazia dentro de mim e com aquele grito, tão comprido que lhe tinha custado a passar-me pela garganta, saiu-me da boca um bocadinho de coisa, quase nada, que parecia uma bola de saliva… e aquele bocadinho de coisa, quase nada, que tinha vivido tanto tempo fechado dentro de mim, era a minha mocidade que fugia com um grito que não sabia muito bem o que significava… desamparo?
A Praça do Diamante, de Mercè Rodoreda, Dom Quixote, Fevereiro de 2025, tradução de Mercedes Balsemão
Orbital
por Paula Mota
2025-04-28O passado chega, o futuro, o passado, o futuro. É sempre agora, nunca é agora.
Este seria um livro que, em princípio não me puxaria, já que não tenho praticamente interesse pelo espaço. Não vi os clássicos baseados na obra de Arthur C. Clarke (“2001-Odisseia no Espaço”, “2010-Ano do Contacto”) nem sequer a mítica série televisiva de Carl Sagan, “Cosmos”. Fascina-me, no entanto, um céu estrelado longe das luzes artificiais das cidades e também a estranheza de viver fechado dentro de uma nave, de que tive um vislumbre na exposição “Cosmos Discovery” em 2017.
Numa missão de nove meses, há um total de aproximadamente quinhentas e quarenta horas de exercícios matinais. […] Quinhentas e quarenta vezes de ter de engolir pasta de dentes. Trinta e seis trocas de t-shirt, cento e trinta e cinco mudanças de roupa interior (roupa interior lavada todos os dias é um luxo a que não se podem dar), cinquenta e quatro pares de meias limpas.
Foi esse fascínio e essa curiosidade que satisfiz com “Orbital”, o improvável vencedor do Booker Prize de 2024 face aos grandes preferidos: “Os Meus Amigos” de Hisham Matar e “James” de Percival Everett.
No fundo, não é um livro sobre o espaço, mas uma belíssima e singular meditação sobre a periclitante vida no Planeta Azul mas vista de fora, na perspectiva privilegiada da Estação Espacial Internacional, ao longo de um único dia de órbita em torno do globo, em que esta “família flutuante”, constituída por quatro astronautas e dois cosmonautas, assistirá 16 vezes ao nascer e ao pôr-do-sol.
Olham para baixo e compreendem o porquê de lhe chamarem Terra-Mãe. Todos o sentem de vez em quando. Todos fazem uma associação entre a Terra e mãe, o que, por sua vez, os leva a sentir-se crianças. No balançar andrógino de rostos escanhoados, com os calções regulamentares, a comida de colher, o sumo bebido por palhinhas, as bandeirinhas de aniversário, as madrugadas, a inocência forçada de dias diligentes, todos têm, lá em cima, momentos de uma aniquilação repentina dos seus eus de astronautas e de uma sensação poderosa de infância e pequenez.
É neste contraste entre a insignificância dos humanos e a vastidão do universo que “Orbital” se torna um romance existencialista…
Há pessoas assim (gosta ele de dizer), que complicam as vidas interiores por sentirem demasiado ao mesmo tempo, por viverem em nós, e que por isso precisam que o que lhes é extrínseco seja simples. Uma casa, campo, algumas ovelhas, por exemplo. E há quem consiga de alguma maneira, por algum milagre de ser, simplificar a vida interior de forma que as coisas que lhe são extrínsecas possam ser ambiciosas e ilimitadas. Essas pessoas são capazes de trocar uma casa por uma nave espacial, um campo por um Universo.
…onde impera a contemplação das diferentes paisagens sobrevoadas, sem descurar a componente ambientalista…
Quem será capaz de olhar para o ataque neurótico do homem ao planeta e achá-lo bonito? A soberba do homem. Uma soberba tão poderosa que só a estupidez a pode emular. E aquelas naves fálicas lançadas para o espaço são seguramente as mais soberbas de todas, os tótemes de uma espécie que o amor-próprio ensandeceu.
Esta posição vantajosa, em que o planeta é visto como um todo, serve também para questionar as divisões que separam os povos, tanto na Terra…
Uma sensação de amizade e paz prevalece, uma vez que mesmo à noite só há uma fronteira feita pelo homem no mundo inteiro, um longo rasto de luzes entre o Paquistão e a Índia. É a única amostra que a civilização tem para lhes dar das suas divisões e, durante o dia, até isso desaparece.
…como quatrocentos quilómetros acima dela.
APENAS COSMONAUTAS RUSSOS, diz na porta da casa de banho russa. Da mesma forma, na porta da casa de banho norte-americana, APENAS ASTRONAUTAS AMERICANOS, EUROPEUS E JAPONESES. Devido às disputas políticas atuais, use a sua própria casa de banho nacional.
O facto de “Orbital” ter sido classificado como ficção científica pode afastar alguns leitores mas também desiludir outros, pois decorre nos dias de hoje, pouco mais de 50 anos depois da primeira alunagem, como se refere a dada altura, em que o momento mais futurista é a passagem de uma nova missão à lua e a referência a planos de chegar a Marte e povoar esse planeta caso destruamos a Terra de vez. O passado, porém, está também em destaque quando Samantha Harvey refere o momento histórico vivido pelo cosmonauta Sergei Krikalev em Dezembro de 1991, aquando do desmembramento da URSS, muito significativo para uma leitura mais profunda desta elegante composição.
O homem […] que, antes disso, foi enviado para o espaço pela URSS e esteve em órbita na Mir durante quase mais seis meses do que o planeado, porque, enquanto lá estava, a URSS deixou de existir e ele não podia voltar para casa.
Orbital, de Samantha Harvey, Particular Editora, Fevereiro de 2025, tradução de Nuno Carvalho
O Caderno Proibido
por Paula Mota
2025-04-07Compreenderá, tenho a certeza, porque todas as mulheres escondem um caderno negro, proibido. E todas têm de o destruir. Agora pergunto a mim própria em que terei sido mais sincera, se nestas páginas ou nas acções que pratiquei.
“O Caderno Proibido”, escrito em 1952 pela italo-cubana Alba de Céspedes, é um pedaço de literatura introspectiva e muito realista, fruto do seu tempo, que poderá agradar a muitos leitores, mas pressinto que ecoará de uma forma mais retumbante em mulheres com uma idade e uma vida semelhantes a esta protagonista, divididas entre o emprego, a organização da casa, o marido, os filhos e a sua própria individualidade.
Alba de Céspedes foi uma escritora arrojada que, em 1939, se estreou com um livro que causou escândalo e não escapou à comissão de censura, que lhe retirou o prémio que ganhara com “Ninguém Volta Atrás”, a história de oito raparigas cuja autodeterminação não se coadunava com o retrato da boa dona de casa do fascismo. Dezassete vezes haveria de ser chamada à dita comissão, a quem respondeu sempre um lacónico “não” quando lhe perguntavam se não se envergonhava do que escrevia.
“Caderno Proibido” não tem nada de vergonhoso nem de escandaloso pelos padrões actuais, mas ganha desde logo essa carga negativa, primeiro, porque foi comprado impensadamente num quiosque ao domingo, quando estava vedada a venda de artigos de papelaria e, depois, em chegando a casa, Valeria, uma mãe de família de 43 anos, sente a pressão de o esconder...
Afinal não tinha, em toda a casa, uma gaveta, um cantinho que fosse meu.
...porque, neste seu primeiro lampejo woolfiano, não tem como justificar a necessidade de deitar para o papel os seus pensamentos e os acontecimentos do dia e, ainda para mais, mantê-los privados.
Mas tenho 43 anos e parece-me vergonhoso recorrer a pueris subterfúgios para escrever num caderno. Assim, é absolutamente necessário que confesse a Michele e aos pequenos a existência deste diário e afirme o meu direito de me fechar num quarto a escrever sempre que me apeteça.
Há, desde logo, a culpa incutida às mulheres de que, quando estão a fazer algo por si mesmas, estão a ser egoístas, a roubar tempo à família e aos seus deveres domésticos...
Há uma coisa que me impede de confessar que escrevo: é o remorso de perder tanto tempo a escrever. Muitas vezes lamento-me de ter muito que fazer, de ser escrava da família e da casa, de nunca ter a possibilidade de ler um livro, por exemplo. Tudo isto é verdade, mas em certo sentido esta escravidão tornou-se também a minha força, a auréola do meu martírio.
...e isso martiriza muito a protagonista, uma mulher educada à antiga, proveniente de uma família aristocrática caída em decadência, para quem trabalhar fora de casa ainda é uma indignidade. Valeria, que já se sente velha mas tem uma enorme ânsia de provar que ainda é uma mulher desejável e vibrante, vive entalada entre uma geração retrógrada do pré-guerra e outra que procura um corte a nível social e moral.
Ainda me lembro do dia em que anunciei a minha mãe que ia começar a trabalhar. Fitou-me demoradamente, em silêncio, antes de baixar os olhos; só por causa daquele olhar senti sempre o meu trabalho pesar sobre mim como uma culpa. Bem sei que Mirella não aprova o meu sentimento: decerto até o despreza e pretende fazer uma revolução contra mim, com a sua maneira de ser. Não compreende que fui exactamente eu que a tornei livre, eu com a minha vida dividida entre velhas tradições tranquilizadoras e o imperativo de exigências novas. Sou a ponte de que se aproveitou, como os jovens se aproveitam de tudo: cruelmente, sem sequer se darem conta do que estão a receber.
Embora abarque um período de apenas seis meses, de Novembro de 1950 a Maio de 1951, este diário é, mais do que um desabafo, um percurso de autodescoberta e também uma reflexão sobre o casamento...
Agora começo a perguntar o que significa para mim a palavra “amor” referida a Michele e a que sentimentos pretendo aludir ao dizer “Amo o meu marido.” Sinto-me angustiada. Era melhor deixar de escrever porque receio que o cansaço me impeça de ser objectiva. Às vezes imagino que há já muitos anos que não amo Michele e que continuo a repetir esta frase por hábito.
...em que nem sempre se simpatiza com Valeria, que amiúde parece mesquinha, invejosa, preconceituosa e injusta com os filhos, protegendo Riccardo e condenando Mirella.
Nunca compreendi Mirella embora compreenda sempre Ricardo. Às vezes penso que, se não fosse minha filha, me seria difícil gostar dela. (...) Eu nunca pensaria em ser advogada: estudava Literatura, Música, História da Arte. Só me ensinavam o que era belo e doce na vida. Mirella estuda Medicina Legal. Sabe tudo. Os livros foram para mim uma fraqueza que tive de vencer pouco a pouco, com os anos: a ela, pelo contrário, dão-lhe aquela impiedosa força que nos separa.
O Caderno Proibido, de Alba de Céspedes, Alfaguara, Maio de 2024, tradução de Ana Cláudia Santos
Inyenzi ou as Baratas
por Paula Mota
2025-03-26Desejaria escrever esta página com as minhas lágrimas.
Nunca nenhuma africana negra recebeu o Prémio Nobel da Literatura, e creio que Scholastique Mukasonga o merece, como magnífica memorialista que é, como sobrevivente de um povo perseguido e massacrado durante décadas, até mesmo por justiça poética, como homenagem ao milhão de tútsis chacinados pelos seus concidadãos hútus durante 100 dias, em 1994.
Em parte, esta é a mesma história que já tinha lido em “The Barefoot Woman”, dedicado a Stefania, a sua mãe, mas a verdade é que o massacre do Ruanda é o alicerce de toda a produção literária de Mukasonga, porque está intrinsecamente ligado à sua vida e à sua psique, à sua culpa de sobrevivente.
Eu contava e voltava a contar. Dava um total de 37.
É em honra desses 37 membros da sua família, pais, irmãos, irmãs, cunhados, cunhadas, sobrinhos e sobrinhos-netos, que a autora erigiu este “túmulo de papel”, na falta de muitas campas individuais e identificadas, visto que milhares de corpos foram enterrados em valas comuns, enquanto outros ficaram à mercê dos elementos e dos animais selvagens ou foram atirados aos rios. Quem, na altura, viu as imagens dos rios tingidos de sangue com cadáveres estropiados a boiar nunca poderá esquecer.
Houve, é claro, sobreviventes. Nenhum genocídio é perfeito.
Mukasonga abre “Inyenzi ou as Baratas” com um pesadelo recorrente e inicia a narrativa dos acontecimentos de forma cronológica, em 1959, com os primeiros pogroms dirigidos aos tútsis, quando tinha apenas três anos de idade, altura em que a família teve de abandonar a sua aldeia com uma panela de ferro fundido como única bagagem, para se exilar em Nyamata, uma zona de savana quase desabitada, infestada de moscas tsé-tsé.
Em 1962, o Ruanda tornou-se uma nação independente depois de décadas a ser administrado por potências europeias, tornando-se um símbolo dos efeitos de um colonialismo salobro e de um pós-colonialismo irresponsável, em que a Igreja Católica desempenhou um papel pernicioso, instigando umas etnias contra as outras, e a ONU, mais uma vez, não deu uma resposta atempada nem eficiente.
Bertrand Russell estava completamente só quando denunciou “o massacre mais horrível e mais sistemático desde o extermínio dos judeus pelos nazis”. A hierarquia católica, a antiga autoridade mandatária e as instâncias internacionais não tiveram mais nada a dizer sobre o caso a não ser condenar o terrorismo dos Inyenzi.
O terrorismo dos oprimidos e acossados, um cenário demasiado familiar e actual. Foi no início dos anos 60, com a subida dos hutus ao poder que surgiu o termo “Inyenzi” (barata), uma forma de desumanizar aqueles que se quer exterminar, como Hitler fez aos judeus, como Putin faz aos ucranianos, para conseguirem o apoio da população em geral. Apesar da discriminação e do sistema de quotas no ensino, Mukasonga e alguns dos seus irmãos ainda conseguiram estudar. A temporada passada num colégio de freiras entre 1968 e 1971 comprova o espírito de resistente que sempre a caracterizou.
Nós, as tútsis, ficávamos despertas. Esperávamos que todas as nossas colegas dormissem profundamente, que já não houvesse ninguém a ir à casa de banho, que as freiras estivessem definitivamente recolhidas. (…) Muitas vezes, estudávamos ali as lições e fazíamos os trabalhos de casa até de madrugada. Tudo o que aprendi em Notre-Dame-de-Citeaux, aprendi nas casas de banho.
Foi em 1973, quando já estudava na escola de assistentes sociais, que o cerco se apertou em torno dos tútsis e os pais de Mukasonga decidiram pôr dois dos filhos mais velhos, os mais instruídos, a salvo no Burundi.
Tínhamos sido escolhidos para sobreviver.
Depois de se formar, trabalhou em vários programas da Unicef, casou-se com um francês, teve dois filhos e encontrava-se em França quando se deu o último acto da limpeza étnica, em 1994.
Da morte dos meus, tenho apenas buracos negros e fragmentos de horror. O que mais faz sofrer? Ignorar como foram mortos ou saber como os mataram?
É aqui que o relato desta guardiã da memória familiar fica realmente pungente, já que, aos poucos, ficou a saber como morreram ou escaparam todos os seus entes queridos, e que se torna quase sufocante na linha temporal de 2004, quando finalmente ganha coragem para regressar ao “país dos mortos”, para visitar as ossadas reunidas na cripta escavada por baixo da igreja de Nyamata e voltar à casa dos pais, totalmente em ruínas e invadida pelo mato, onde se cruza com antigos vizinhos, pois tal como noutros pontos do mundo, devido à política de reconciliação, carrascos e sobreviventes têm de continuar a coexistir.
Estou sozinha numa terra estrangeira onde já ninguém me espera. Fecho os olhos e às recordações sobrepõem-se as coisas desaparecidas.
Inyenzi ou as Baratas, de Scholastique Mukasonga, Livros do Brasil, Setembro de 2024, tradução de Maria de Fátima Carmo
Os Dias do Ruído
por Paula Mota
2025-03-10Só que o mundo hoje não passa de uma enorme caixa de ressonância. Milhões de pessoas que falam para milhões de pessoas que falam para milhões de pessoas. O ruído sobrepõe-se a tudo, à História e à verdade e aos nossos sonhos mais profundos, e as vozes que o compõem são, quase sempre, indistinguíveis.
Sou fã de David Machado tanto quando tem por alvo o público adulto como quando escreve para os mais novos. É um autor realmente talentoso e original que cria enredos cativantes e personagens convincentes, como pude novamente verificar com “Os Dias do Ruído”, um livro extremamente actual e ousado que só fraquejou na terceira parte, quando Machado parece ter perdido o arrojo em detrimento de um final quase, quase feliz.
A primeira ousadia é a de escrever do ponto de vista de uma mulher, tão consciente dessa decisão que até aborda a questão do género quase no início.
A jornalista eslovena que nos últimos dias me acompanhou diz, como se me elogiasse:
- O seu livro não parece ter sido escrito por uma mulher.
(…) Duas questões que, uma vez respondidas, talvez solucionem alguma coisa:
1)Como é que escreve uma mulher?
2)Eu quero escrever como uma mulher?
Se os homens escrevem de forma distinta e distinguível das mulheres, não sei, mas que David Machado se sai muito bem a pensar como uma mulher é o maior elogio que posso fazer-lhe.
No dicionário, a definição de “herói” é: pessoa de grande coragem ou autor de grandes feitos. Por outro lado, uma “heroína” vem definida como: mulher de coragem, de sentimentos ou virtudes excepcionais. A coragem parece ser um atributo universal. Mas depois é como se uma mulher não precisasse de fazer nada para além de sentir as coisas certas.
Laura é uma fotojornalista com experiência em cenários de guerra que matou um homem prestes a perpetrar um ataque terrorista num café em Paris, atirando-a assim para as bocas do mundo.
Na gritaria da caixa de comentários, sou feminista radical e descontrolada, fundamentalista anti-islão, inimiga das religiões, de Deus e da fé global, fascista frustrada, caçadora de emigrantes, racista inveterada, fanática da extrema-esquerda, psicopata neoliberal.
Depois deste acto de autodefesa a ter catapultado para o estrelato, aquilo que mais almeja e alimenta, decide capitalizar a fama e escrever um livro que se torna um gigantesco êxito e a leva em digressão pelo mundo inteiro, em sessões de autógrafos, palestras e entrevistas.
Querem saber quem sou, alcançar os meus pensamentos mais íntimos e ter a certeza de que estou do lado certo da História. Querem também não ter medo de mim. Eu dou-lhes todas as respostas, para não as perder, para que não deixem de me olhar, para poder continuar a caminhar sobre as águas. Mas há sarcasmo em quase tudo o que digo.
Laura é uma autêntica <i>badass</i>. É corajosa, provocadora, desbocada, um pouco misantropa e narcisista…
A dada altura [a terapeuta] troçou:
- Estranho não é ter matado aquele homem, mas que isso não tenha acontecido antes.
(…) Por vezes penso naquilo e passo em revista todos os homens com que me cruzei até ao Amar, em busca daquele que deveria ter matado e não matei.
…uma protagonista magnética para uma história que expõe toda a podridão das redes sociais e que se enche de adrenalina quando ela começa a receber ameaças de morte. Apesar de serem anónimas, Laura tem uma certeza inusitada:
A minha argumentação é fraca e, embora, não o expresse, baseia-se numa necessidade íntima de que a pessoa que me quer matar seja uma mulher. O que quero dizer é isto: não há qualquer comoção na ideia gasta de ser ameaçada por um homem. Eu preciso que seja uma mulher para poder acreditar que a vida ainda esconde dimensões inesperadas, nada evidentes e complexas, que somos capazes de ultrapassar a dinâmica tão antiga e automatizada das relações de poder.
A coação, no entanto, torna-se insuportável e Laura refugia-se no último sítio que lhe ocorreria, aquele que tanto ela como a irmã deixaram para trás há muitos anos: a inóspita casa do pai, um velho contrabandista de Peniche. Apesar da relação conflituosa com o pai e de a mãe estar doente e raramente a reconhecer, é nessa “fortaleza”, nesse regresso às raízes que se sente finalmente em sossego, ainda que mais psicologicamente vulnerável.
Não ter de fingir encontrar-me num patamar de inteligência superior é um alívio, quase uma conquista espiritual, mas também uma tragédia interior. Nesta casa – nesta cidade? – ninguém espera de mim uma oratória política e culturalmente consciente, carregada de eloquência. Lá fora, no mundo, também não, eu sei (se abordar o assunto como uma equação matemática). Mas parecer mais do que sou foi o que fiz a vida toda desde que saí daqui. Ao ponto de se tornar parte do que sou. Como não chorar essa ausência?
Esta narrativa algo fragmentária e episódica, com temas polémicos explorados de forma transgressora, é um verdadeiro <i>tour de force</i> de David Machado que, no entanto, peca pela suavização do tom com a mudança de cenário.
Mas o esquecimento não é possível nesta época em que tudo está registado e as máquinas decidem sozinhas quando está na hora de olharmos para o passado. Como é que podemos ser humanos sem nos esquecermos?
Os Dias do Ruído, de David Machado, Dom Quixote, Setembro 2024
Viagem no Proleterka
por Paula Mota
2025-02-18Duas palavras acompanham-me como um estribilho: “viver” e “experiência”. Imaginam-se palavras para narrar o mundo e para o substituir. As duas palavras devem cumprir-se.
Disse Susan Sontag que Fleur Jaeggy é uma escritora selvagem, e eis o seu segundo livro publicado em Portugal a comprová-lo. Quem não gostou da jovem colegial desapegada de “Felizes Anos de Castigo”, escusa de lê-lo, já que é mais do mesmo mas a alguns graus abaixo de zero; quem, por outro lado, ficou hipnotizado com o bisturi com que a autora disseca uma infância e uma adolescência caracterizadas por um sentimento de orfandade, tem aqui um repasto tão farto quanto o minimalismo lhe pode oferecer.
É para o meu bem. Uma frase venenosa. Mas soa bem. Sei que aquela frase nunca foi de bom augúrio. Desde então piorou a minha situação de menor de idade. Há que proteger-se quando se ouvem ditames semelhantes. Quando se é refém do bem.
Quantas vezes pode uma pessoa ficar órfã? Em teoria, ao perder o pai e a mãe, mas no caso da protagonista de “Viagem no Proleterka”, tantas vezes quantas é abandonada e passa de mão em mão como um estorvo, até ser posta num colégio interno, e quando pensa que todos aqueles que decidiam o seu destino já estavam enterrados, surge a surpresa do final, que a faz pôr em causa toda a sua identidade.
Naquela época, não pensava nos mortos. Eles vêm tarde ao nosso encontro. Chamam quando sentem que nos tornámos presas e é hora de ir à caça.
Antes de mais, esta rapariga sem nome é a filha de Johannes…
A pessoa que me é inverosimilmente desconhecida. (…) Nenhuma intimidade. E, no entanto, um laço anterior às nossas existências. Um conhecimento no estranhamento total.
…um homem do norte que veio em jovem para o cantão mais a sul devido aos problemas de saúde do irmão inválido, onde conhece uma rapariga de origem italiana com quem se corresponderá mais tarde em francês, unindo nesta obra três das línguas da Suíça e polvilhando de termos alemães, de uma forma quase clínica, um texto originalmente escrito em italiano.
Quando a protagonista era muito pequena, a mulher de Johannes deixa-o e leva a filha, entregando-a depois à sua mãe para ir refazer a vida noutro continente.
Eram mulheres que governavam casas e pessoas. Longevas. Criados os filhos, as flores e as cartas tinham a primazia. As flores tornaram-se uma obsessão. Bem como as doenças e os parasitas. Que corroem folhas e pétalas. Mas as flores e as pétalas delas estavam quase sempre sãs, ao contrário dos jardins dos outros, que estavam doentes. (…) As mulheres daquela família tinham uma paixão autística por camélias, rosas e nada mais. Escassa propensão para os seres humanos.
Tendo apenas direitos de visita, não é mais sentimental a relação que Johannes tem com a filha.
Lacónico, Johannes apontava o que a filha fazia, aonde a levavam, o estado de saúde. Frases breves, sem comentários. Como respostas a um questionário. Não há ali impressões, sentimentos. A vida é simplificada, como se não existisse.
Sendo duas pessoas “em salas de espera”, é já um pai idoso e doente que convida a filha para um cruzeiro às ilhas gregas, a primeira e última viagem juntos, ele exausto e derrotado, ela prestes a fazer 16 anos, com as hormonas em ebulição e nenhuma disciplina.
O conhecimento é o único perdão, penso, que se pode alcançar.
Não há vislumbre de emoção em “Viagem no Proleterka”, escrito com uma esterilidade equiparável à das relações entre as personagens, uma frieza que aflige e se propaga. É um livro que pode ser apreciado pelo seu valor estético, o que me trouxe reminiscências de Marguerite Duras, ou, dependendo da experiência do leitor, como um proverbial dedo na ferida.
As crianças desinteressam-se dos pais quando são abandonadas. Não são sentimentais. São passionais e frias. De certa forma, algumas abandonam os afetos, os sentimentos, como se fossem coisas. Com determinação, sem tristeza. Tornam-se alheias. Por vezes, hostis. Já não são elas os seres abandonados, mas são elas que batem mentalmente em retirada. E vão-se embora. (…) Algumas crianças governam-se sozinhas. O coração, cristal incorruptível. Aprendem a fingir.
Viagem no Proleterka, de Fleur Jaeggy, Algaguara, Setembro 2024, tradução de Ana Cláudia Santos.
Os Armários Vazios
por Paula Mota
2025-02-04Como é que eu podia imaginar que isto acabaria assim? (…) Cuspir, vomitar para esquecer. A vida morre dentro de mim, do meu ventre. Quando, como. Narro-me. Ainda não tenho resposta.
Há uma característica única no conjunto da obra de Annie Ernaux que é a repetição. Como remói constantemente o seu passado, o que a leva, como ela mesma disse, a ser dissidente do seu género e da sua classe, a sua escrita é um jogo de espelhos. Por conseguinte, “Perder-se” e “Paixão Simples” são duas faces da mesma moeda, enquanto “Um lugar ao Sol”, “Uma Mulher”, “Vergonha” e “Não saí da minha noite” funcionam como uma tetralogia consagrada aos pais, e por fim, “Os Anos” abarcam tudo o que veio antes, juntando o individual e o colectivo. “Os Armários Vazios” não é excepção e surge como o contraponto ficcionado de “O Acontecimento”. Esta obra, contada por uma jovem universitária, realmente transmite num registo cru e acerbo a frustração de quem percorreu um longo e premeditado caminho como boa aluna para ascender socialmente a um meio diferente do seu, para, afinal, deitar tudo por terra devido a uma gravidez indesejada. É enquanto espera que faça efeito o tubo que a curiosa lhe enfiou no útero para lhe provocar o aborto clandestino que Denise se perde em pensamentos, primeiro pela falta de representação nos livros que devia estar a ler…
Não há lá nada sobre a minha situação, nem um parágrafo a descrever o que sinto agora, que me ajude a atravessar estes momentos horríveis. (…) Devíamos encontrar trechos escolhidos acerca de tudo, sobre uma rapariga de 20 anos que foi à fazedora de anjos, que sai de lá, sobre o que ela pensa enquanto caminha, quando se atira para cima da cama. Eu lê-los-ia e relê-los-ia. Os livros nada dizem sobre isso. Uma bela descrição da sonda, uma transfiguração da sonda…
…e, sem seguida, recuando até à tasca/mercearia da sua infância que tanto abomina, em que a esqualidez…
No inverno, na despensa das panelas, debaixo da escada da cozinha, de pé dentro da bacia de água com sabão que servia para lavar o corpo, os dentes, as partes baixas, tudo na mesma água sem enxaguar. E a minha mãe ainda a usava para esfregar o chão de tijoleira na segunda-feira seguinte.
…convive com opulentas imagens sinestéticas, na sua pueril relação de atração/repulsão pelo seu meio.
Cubos de caldo de carne embrulhados em papéis dourados como rebuçados de luxo, salgados, queimam o céu da boca. Cachos de bananas em vagas doces. (…) Posso inundar-me de odores intensos no canto votado à perfumaria, lírios-do-vale, chipre, em frascos presos com elásticos a caixas penduradas nas paredes, levantar as tampas de estojos de pó de arroz Tokalon.
É quando entra para um colégio particular e começa a conviver com pessoas mais polidas que seguem regras de etiqueta e usam um vocabulário mais refinado, que Denise se sente diferente e, por vezes, diminuída.
Os risos, a felicidade e, de repente, tudo azeda como leite estragado, vejo-me, vejo-me e não me pareço com as outras… (…) As coisas deixam de ser como antes. Isto, a humilhação. Foi na escola que a aprendi, que a senti.
Mas cedo arranja uma solução para diminuir esse fosso…
Foi assim que comecei a querer ter êxito, contra as raparigas da turma, todas as outras raparigas, as pretensiosas, as afetadas, as mariquinhas… A minha vingança estava ali, nos exercícios de gramática, de vocabulário, (...) nas contas de somar.
…inversamente proporcional ao abismo que se abre em casa, com descrições impiedosas do estabelecimento, da clientela e sobretudo dos pais.
Eu fingia simplesmente que não via, fechava-me no quarto com os meus livros, ignorava as bebedeiras no bar. Mas as coisas afetavam-me, mesmo assim. Chorar, à frente do espelho, de punhos cerrados, farta, farta. Treze, 15 anos.
Os livros servem, portanto, de refúgio, mas também como factor de distanciamento dos outros…
A verdade, a verdade estava escrita a preto e branco, nos livros, era feita à minha medida. Eu observava do alto, tinha pena de quem não conseguia ler e compreender uma só página.
…até chegar à universidade e compreender que nem a literatura a arrancará das suas raízes.
A única coisa que fiz foi engolir ódio, revoltar-me contra tudo, a minha cultura não passa de imitação. Resta-me enfiar o nariz na minha merda toda. Até a literatura é um sinal de pobreza, o recurso típico para fugir ao meu meio. Falsa da cabeça aos pés, a minha verdadeira natureza, que é feito dela?
Tenho sido muito crítica em relação a Annie Ernaux, pois considero-a arrogante em “Os Anos” e indiscreta quando escreve sobre os pais, mas é quando se espraia neste tipo de autoficção que gosto de lê-la.
Armários Vazios, de Annie Ernaux, Livros do Brasil, Abril 2024, tradução de Tânia Ganho
A Guerra Guardada
por Paula Mota
2025-01-22“A Guerra Guardada” é a transposição para papel de uma exposição que esteve patente no Museu do Aljube – Resistência e Liberdade, em 2022: “A Guerra Guardada: Fotografia de Soldados Portugueses em Angola, Guiné-Bissau e Moçambique (1961-1974)”, que não vi ao vivo mas me parece um projecto muitíssimo bem-conseguido até mesmo em formato de livro, devido ao seu carácter multidisciplinar.
Partimos de memórias e de colecções fotográficas de homens comuns: soldados, sargentos e oficiais de baixa patente, representando a base da hierarquia militar. (…) Este grupo de homens trouxe consigo histórias e fotografias diferentes da visão autorizada pelo Estado Novo: imagens do quotidiano militar e de soldados fora de serviço (a beberem, a jogarem futebol, a passearem), encenações de pose bélica, retratos de populações africanas, fotografias de armamento e do rasto de destruição deixado pela guerra.
Assim, sendo, temos as “Fotos Contadas”.
Tocou a reunir e formaram-se duas filas para receber o pré, uma enorme e outra mais pequena. Então o que era? Em 1966, havia soldados de 1ª e de 2ª! Na fila maior, eram só negros que não sabiam ler e que foram incorporados nas forças portuguesas como praças de 2ª, a receber metade do salário. Na fila mais pequena, estavam alguns mulatos e negros que tinham a 4ª classe completa, e todos os brancos, mesmo os que eram analfabetos. Para ser praça de 1ª bastava ser branco! Foi aí que comecei a desmanchar o castelo de cartas em que estava metido.
As “Fotos Faladas”, acompanhadas de um QR Code com ligação a um vídeo do Youtube onde se ouve o autor de cada foto a contar a respectiva história. Creio que é impossível escutar o testemunho do furriel Gamito em “Como se fosse meu filho” sem algum grau de comoção, ainda para mais acompanhado pelo texto do escritor/tradutor Paulo Faria, “Chorar como homens crescidos”, que fez também chorar esta mulher crescida.
Como foi possível deixarmos estas histórias tantos anos ao abandono, tão sozinhos com os seus fantasmas, à mercê dos oportunistas que se mascaram de camuflado e se fazem porta-vozes espúrios da dor alheia, falando em “Deus, pátria e família” com o descaramento de quem acha que os tempos estão maduros para reciclar o entulho? Como é possível alguém atrever-se a confundir a justeza das reivindicações dos veteranos da guerra colonial com a justeza da guerra colonial?
Em “Avessos”, vêem-se apenas as dedicatórias no verso de um conjunto de fotografias, desde as mais formais às mais pessoais.
O quê? Se este avião é meu? Não Miquita! É o avião que me traz sempre as tuas cartas fresquinhas.
Ficaria contente com um livro inteiro de fotografias e de relatos dos seus autores ou protagonistas, mas este é enriquecido com vários textos com capacidade crítica sobre o conflito nas ex-colónias…
Certamente que apenas uma minoria dos mais de um milhão de portugueses mobilizados entre 1961 e 1974 para este conflito esteve envolvida em operações ou episódios de violência indiscriminada. Mas não terão sido assim tão poucos os que estiveram, grupo em que se incluem aqui os militares do quadro que tinham ainda uma carreira pela frente depois do adeus às armas em África. A teia de cumplicidades entre a PIDE e as forças armadas era por demais conhecida, e foi certamente um dos fatores por detrás da atitude globalmente indulgente do regime democrático para com uma instituição-chave na sustentação da ditadura e do colonialismo.
- “A guerra e os seus fantasmas”, Pedro Aires Oliveira -
…a correspondência trocada entre os combatentes e a metrópole…
O Estado Novo foi incapaz de controlar o que era contado e mostrado neste fluxo ininterrupto de correspondência, que chegou a quase dez toneladas diárias.
- “Olhar a guerra entre a antropologia e a história”, Maria José Lobo Antunes e Inês Ponte -
…a censura e a manipulação da comunicação social da época…
A televisão foi um canal utilizado pelas Forças Armadas para estimular a adesão ao esforço de guerra. A primeira estratégia utilizada neste sentido foi a exibição do horror, sobretudo no ‘Telejornal’ e em documentários, alguns nunca exibidos. (…) Esta exibição televisiva foi complementada, desde o início, com a expressão do cuidado, sobretudo através de campanhas de solidariedade, mediadas pelo ‘Telejornal’, nas quais foram ganhando preponderância as actividades do Movimento Nacional Feminino.
- “Que guerra passou na televisão portuguesa”, Rita Luís -
…e toda a engenharia social criada pelo regime para justificar o colonialismo e alimentar a máquina de guerra.
Em meados do século XX, Portugal era governado por um regime autoritário e conservador, cujo aparelho de propaganda e censura garantia a unidade do discurso público sobre o país e o mundo. Vivia-se então a ficção de unidade e harmonia racial de uma nação espalhada “do Minho a Timor”. A simplificação e popularização do lusotropicalismo do sociólogo brasileiro Gilberto Freyre permitiu consolidar um discurso de excepcionalismo que ainda hoje perdura.
- “Fotografia, censura e imaginação da guerra”, Maria José Lobo Antunes -
Um trabalho de excelência das antropólogas Inês Ponte e Maria José Lobo Antunes (filha de um veterano da Guerra Colonial, António Lobo Antunes), que prima pela clareza e pelo poder de síntese face a temas deveras complexos.
Quando os proprietários desaparecem, as fotografias abandonam o seu estatuto de objectos de afecto. Sem guardiões, deixam de habitar o lugar de uma narração praticada e transformam-se em fotografias-órfãs.
Eu, que pertenço à geração do pós-memória, acho imprescindíveis todas as reflexões sobre um assunto que durante tanto tempo foi silenciado e recalcado, ainda que acredite que seja tarde de mais para evitar este reabrir de feridas espoletado por qualquer gatilho de uma sociedade que tudo questiona, e ainda bem que o faz.
A Guerra Guardada- Fotografia de Soldados Portugueses em Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, 1961-1974, de Maria José Lobo Antunes e Inês Ponte, Tinta da China, Setembro de 2024
Os Rostos
por Paula Mota
2025-01-02Porque havia, pensava ela, algo em cada rosto que ofendia e desafiava o mundo da mesma forma que a caligrafia ilegível de um médico ofende a autoestima do farmacêutico. Permitiu que um pensamento sereno e triste lhe deslizasse por entre as folhas do livro.
Creio que a leitura de “Os Rostos” será mais enriquecedora para quem puder contextualizá-la através de “A Trilogia de Copenhaga”, as memórias de Tove Ditlevsen, mas mesmo não me apercebendo de todos os pontos de contacto entre as duas obras, consigo avaliar esta que agora terminei de forma autónoma sobretudo pela escrita excepcional, apesar de um ligeiro abuso de metáforas e comparações.
Todos os dias cheirava os livros como um cão fareja nas árvores e nas pedras os odores que o instigarão a levantar a perna e urinar. (…) Provava-os com minúcia, deixava-os deslizarem-lhe pela língua como uma conhecedora de vinhos experiente, arrancava-os do contexto e polvilhava-os com as suas conclusões e ideias desavergonhadas. Esguia e curvada com um ponto de interrogação, tirou um livro de uma das prateleiras mais baixas.
São, por exemplo, soberbas as inúmeras passagens sobre o tema que dá nome à obra e que, tal como as vozes que ouve, são sintomáticas da desagregação mental da protagonista.
Durante o dia, os rostos estavam sempre a alterar-se, como se ela os visse refletidos em águas agitadas. Olhos, nariz, boca, um triângulo tão simples que, no entanto, continha um número infinito de variações. Como era possível? Há muito que evitava sair de casa, porque a imensidão de rostos que povoavam as ruas a assustava. (…) O novo rosto não era nem demasiado grande nem demasiado pequeno, e conservava vestígios de uma vida que não era a do seu novo dono. No entanto, quando uma pessoa se lhe habituava, surgiam nele traços do rosto original, tal como um papel de parede antigo que se rasga e expõe fragmentos da camada escondida abaixo dele, ainda fresca e bem preservada e repleta de recordações dos anteriores ocupantes da casa.
Lise, uma celebrada autora de livros infantis, é uma narradora questionável cujo relato dos acontecimentos nunca é claro na sua proveniência, porque se trata de uma mulher em crise, ou melhor, numa convergência de crises identitárias…
Nunca quis outra coisa. Não quero saber do mundo para nada. Só quero escrever e ler, só quero ser eu própria.
…como escritora, como mãe, como mulher…
Gert encarava a sua fama como uma afronta pessoal. Afirmava que não podia ir para a cama com uma obra literária e traía-a com grande empenho, mantendo-a meticulosamente informada sobre as suas conquistas amorosas.
…e como ser racional.
- A realidade – disse ele – existe apenas na sua mente. A vida correr-lhe-ia muito melhor se metesse isso na cabeça de uma vez por todas. A realidade não tem existência objetiva.
- Então onde é que eu existo? – perguntou ela.
- No consciente de outras pessoas – disse ele com paciência.
Depois de uma tentativa de suicídio, Lise é internada numa instituição psiquiátrica onde assistimos aos seus surtos psicóticos. Tendo em conta que estamos num país nórdico, não há as habituais descrições de más condições e maus tratos, mas as imagens usadas por Tove Ditlevsen transmitem um desassossego que nem o lirismo consegue mitigar.
Tateavam com uma mão ao longo da parede, que se inclinava um pouco sobre o corredor, e sabiam que um dia, no seu cansaço amarelo de abandono, a dita parede cairia sobre elas e as esmagaria. (…) Depois, esqueciam-se daquilo que lhes atraíra a atenção e retomavam o seu trabalho árduo de separar as horas umas das outras, para que a noite não gotejasse sobre elas a meio da tarde.
Filtradas pela mente perturbada de Lise, há situações da vida familiar extremamente incomodativas que, no final, nos levam a duvidar do que lemos: seriam a realidade ou fruto de um transtorno?
Os Rostos, de Tove Ditlevsen, Dom Quixote, Julho de 2024, Tradução de João Reis
Caruncho
por Paula Mota
2024-11-26Disso morreram todos nesta família, de ódios seus e dos demais, mas sempre de ódios.
“Caruncho” é um daqueles livros que exigem ar puro, muito sol e talvez até um banho de sal grosso para nos libertar das más energias habilmente condensadas em apenas 100 páginas. Layla Martínez aprendeu bem todas as lições: as de Shirley Jackson com as suas casas assombradas e habitantes proscritas…
No andar de cima começaram a ouvir-se ruídos como o arrastar de móveis e o abrir e fechar de gavetas. Toda a casa estava furiosa com nós duas, notava-se em cada ladrilho e em cada tijolo.
…as do realismo mágico, as do gótico sulista, as das figuras das bruxas…
Esse boato sim enraiveceu a velha porque se dissessem que estava demente era-lhe indiferente mas não consentia que afirmassem aquilo dos gatos afinal ela gostava tanto deles até os tratava por você quando a velha nem o senhor tratou por você no tempo em que o serviu.
…as do macabro religioso…
As rezas caíam-lhe dos dentes sem que eu as ouvisse mas eu sabia que ela pedia a Santa Bárbara decapitada pelo pai no cimo de uma montanha a Santa Cecília banhada em água a ferver a Santa Maria Goretti assassinada quando a tentavam violar a todas as santinhas mortas pelas mãos de homens raivosos.
…e criou um livro original e pujante, protagonizado por quatro magníficas mulheres zangadas. Numa sociedade em que ainda hoje se lida mal com mulheres que levantam a voz, as chamadas histéricas, é refrescante ver estas que não se deixam espezinhar e decidem aplicar a boa e velha justiça pelas próprias mãos. Acho a vingança um desperdício de energia, mas ler sobre ela dá-me uma satisfação indiscritível.
Só que o meu pai não sabia que iria ficar trancado na prisão que estava a construir. Quando a minha mãe percebeu que nunca poderia sair daquele espaço, deixou de pedir aos santos e começou a falar com as sombras.
Nesta obra, parece-me até haver uma quinta protagonista, já que a casa de família é uma entidade própria, um poltergeist maligno que embebeu todo o rancor sentido entre as suas quatro paredes e que cria a simbiose perfeita, vivendo das suas proprietárias e alimentando-as numa sobrevivência autofágica.
Ainda não percebi o quê, perguntei, pensando que agora sim viriam as arranhadelas e os insultos e as pancadas porque não podemos açular a velha sem esperar que não se atire a nós. Mas não aconteceu nada disto, nela havia apenas desalento e um pouco de raiva, só um pouquinho, o suficiente para dizer não percebeste que desta casa não sai ninguém.
“Caruncho”, no entanto, não é apenas uma obra manifestamente feminista, já que o fosso entre classes é por demais evidente e explorado até às últimas consequências.
Mas detestam-nos a todos por igual sentem o mesmo asco por todos nós e esse asco toma conta de nós e envenena-nos e trazemo-lo num lugar tão profundo que acabamos por pensar que é nosso mas não é.
O termo “fenómeno” que a editora utiliza para descrever “Caruncho” não é, desta vez, um mero truque publicitário. Este fenómeno paranormal tem um subtexto subversivo que funciona tanto para quem deseja só uma boa história de terror como para quem procura uma mensagem política.
Eu amaldiçoava os parentes, os guardas civis, os padres, a quem quer que fosse, com todo o ódio que havia nas minhas entranhas e nas da casa porque sabia que no dia em que nós, os pobres, começássemos a cobrar dívidas, muitos não teriam sequer uma pocilga onde se esconder.
Caruncho, de Layla Martínez, Antígona, Março de 2024, tradução de Guilherme Pires