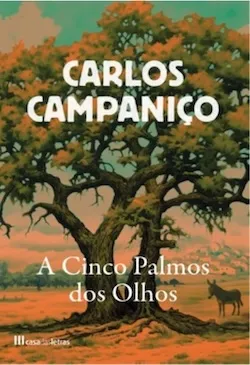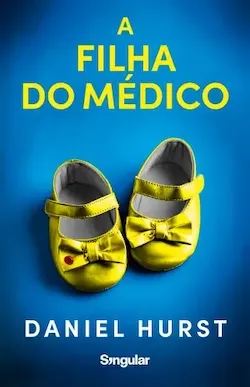Folheando com... David Soares

David Soares
2010-03-01É autor dos romances Lisboa Triunfante e A Conspiração dos Antepassados. Publicou também três livros de contos, tendo sido premiado com dois troféus como Melhor Argumentista Nacional, atribuídos pelo Instituto Português do Livro e das Bibliotecas e pelo Ministério da Cultura. O Evangelho do Enforcado - romance fantástico sobre os Painéis ditos de São Vicente – é o seu novo livro. Trata-se de David Soares, a quem tivemos o prazer de entrevistar.
«Ajoelhou-se junto à cabeça de Máxima e fechou-lhe as pálpebras. Nunca pensei que a morte de uma mulher pudesse ser uma coisa tão bonita, pensou. Tão franca... tão livre. Beijou a morta e percebeu que a vontade de ter relações sexuais desaparecera. O homicídio também tinha o poder de fazê-lo sair dentro de si. É a mulher tão prisioneira, meditou, que só na morte pode ser... independente?»
O David Soares trabalhou figuras históricas com personagens fictícias, como o Nuno Gonçalves, o hipotético pintor da obra, um verdadeiro psicopata. O que foi mais difícil para si na criação desta personagem?
Sempre considerei que escrever sobre os Painéis ditos de São Vicente seria um magnífico desafio, e que isso poderia ser uma boa oportunidade para contar uma excelente história, mas fui adiando esse desejo por me faltar um ângulo interessante para abordá-lo. Entretanto, também tinha vontade de escrever uma história sobre um crime, passada na Idade Média, na qual pudesse explorar as idiossincrasias desse tempo que, regra geral, não costuma ser retratado com muita autenticidade na ficção moderna. É uma época que me fascina e já há uns tempos que andava com vontade de escrever uma história pertinente sobre ela e que lhe fizesse justiça. Ora, o tema dos Painéis ditos de São Vicente é, como é evidente, um tema medieval e a iniciativa de uni-lo com a minha ideia para escrever sobre um crime medieval foi-me inspirada por uma frase que John Douglas, um dos criadores da análise de perfis psicológicos de assassinos em série para o FBI, escreveu na sua autobiografia “Mind Hunter”. Logo nas primeiras páginas desse livro, Douglas explica ao leitor que costuma introduzir os alunos dele no estudo dos crimes seriais dizendo-lhes que têm que olhar para o quadro se querem compreender o artista, ou seja: que precisam de estudar a “obra” do criminoso para perceber como funciona a mente dele. Foi esta alegoria que me deu a ideia de escrever sobre um pintor psicopata e, em última análise, sobre um Nuno Gonçalves psicopata, autor dos Painéis ditos de São Vicente. Em suma: foi uma fusão quase mononfálica das duas ideias que explanei no início desta resposta, com a alegoria de Douglas à guisa de umbigo único. Há pouco falei na autenticidade e essa qualidade foi algo que sempre esteve nos meus horizontes ao criar o universo de “O Evangelho do Enforcado”. É um mundo medieval português, de segunda metade do século XV, baseado nos melhores e mais credíveis registos e análises históricas e sociais disponíveis, como os livros de Costa Lobo, Oliveira Marques ou José Mattoso, assim como outros autores portugueses e estrangeiros que vêm listados na bibliografia final que acompanha o romance. Em essência, não avanço com a hipótese de que o meu livro se trata de um retrato realista da Idade Média portuguesa, porque é, sobretudo, um romance de literatura fantástica, mas não tenho dúvidas de que se trata de uma visão o mais autêntica possível, em virtude das fontes consultadas. Nessa óptica, também o desenvolvimento da personalidade psicótica de Nuno Gonçalves é uma continuação desse labor rigoroso, assente em biografia séria sobre o tema. Felizmente, ele não me é estranho e possuo na minha biblioteca pessoal alguns bons livros sobre psicopatia e criminalística que também vêm citados na bibliografia final de “O Evangelho do Enforcado”. Ora, quando se parte de uma base sólida, capaz de aguentar os mais pesados golpes da imaginação, a tarefa de conceber personagens que até nos podem ser repugnantes torna-se mais fácil. Com efeito, esse é um dos trabalhos do escritor: ser capaz de criar personagens e pô-las a falar com voz própria.
O meu método é ser o mais rigoroso possível com os temas que me proponho abordar, sejam eles a Idade Média portuguesa, a psicopatia ou outro assunto que me desperte o interesse, e conhecer o máximo possível sobre uma coisa, de maneira a ser capaz de olhá-la de muitos ângulos diferentes, antes de escrever sobre ela. Isso é, também, uma forma de deixar a imaginação mais à vontade, porque quando a base histórica, científica, de um determinado tema é sólida ela vai fortificar a fantasia, vai contextualizá-la e dar-lhe um peso totalmente diferente do que ela acabaria por ter se os elementos fantásticos surgissem, somente, num entrecho sem qualquer tipo de justificação. Por outro lado, ao escrever desta forma, o livro fica blindado de ataques críticos, mais ou menos bem-intencionados, porque eu tenho a certeza de que a base sólida sobre a qual ele assenta é inexpugnável. Olho para a escrita como um trabalho especializado, por isso nunca me atreveria a escrever um romance sério sobre Fernando Pessoa, como fiz com “A Conspiração dos Antepassados”, sem, no máximo das minhas capacidades, ter a certeza absoluta de que o retrato que ofereço desse poeta é o mais fidedigno, natural e autêntico possível. A mesma lógica se aplica a um livro sobre Lisboa medieval ou sobre uma personagem que é psicopata.
Faz carreira nas letras recorrendo principalmente a narrativas do género Fantástico. Houve alguma influência especial para essa sua aptidão?
Acho que cada escritor tem uma voz autoral que se relaciona com um determinado discurso que possui um modo reconhecível pelos leitores através dos ditos géneros literários com os quais comunica. Tudo o que escrevi até hoje são ficções fantásticas, em maior ou menor aproximação ao género do horror ou da fantasia negra, mas isso não é de modo algum deliberado. Como acabei de dizer, é algo que está relacionado com a minha voz autoral, com aquilo que tenho para contar. Gosto de contar histórias um pouco mais negras, um pouco mais intrincadas, talvez mesmo sofisticadas, que aquilo que se lê todos os dias, e o Fantástico é um terreno privilegiado para comentar, observar e discutir todas as espécies de assuntos porque permite uma distância analítica saudável. Nem sequer falo da superficialidade do mecanismo da alegoria. A maioria das pessoas fala sempre em metáfora quando alude aos géneros fantásticos, mas a metáfora não é a representação de uma coisa por outra, como, por exemplo, ver uma alusão à sida no monstro do filme “A Mosca” de David Cronenberg. Quanto muito, a criatura poderá ser uma alegoria, e da mesma ordem que as criaturas e monstruosidades que se podem ver pinturas medievais flamengas, como as de Bosch, mas nunca uma metáfora, porque a metáfora estabelece uma relação directa com o objecto ou com o conceito que é alvo da própria metáfora. A alegoria não estabelece nenhuma relação directa com o objecto e é por essa razão que algumas são tão difíceis de decifrar. Mas já o Todorov escreve no seu famoso ensaio sobre literatura fantástica, que eu considero demasiado datado e cheio de ideias que já não fazem sentido, que o fantástico não deve, não deveria ser alegórico. O que é isto significa? Para começar, que os mundos e personagens fantásticas são mundos e personagens por mérito próprio e não simples alegorias para correspondentes que existem no mundo real que nos rodeia. De facto, conheço leitores que não gostam de fantasia e que só toleram a presença da fantasia nos livros quando acham que ela se subordina a uma prefiguração idealista do real. São, em última análise, leitores adversos a ler um livro que não tenha nenhuns referentes directos com aquilo que vêm todos os dias. Aqui insere-se um dos muitos preconceitos contra a literatura fantástica: a noção, errada é claro, de que a verdadeira arte, da qual a literatura também faz parte, deve mimetizar o real. Ou então, se não o mimetiza, que se deve corresponder com ele apenas com alguns graus de desvio, como nos casos da chamada prosa poética ou da pintura abstracta. Também não é fácil, durante a leitura, imaginar coisas que não existem e que nos chegam só no momento da sua descoberta, como os mundos alienígenas da ficção científica. A frustração em não ser capaz de imaginar coisas inéditas também concorre para afastar os leitores da literatura fantástica, não tenho dúvidas disso. O horror, por outro lado, é um género muito mal visto, porque, em analogia com a comédia ou mesmo com a pornografia, provoca uma reacção física no leitor e no espectador, e atrás de nós temos toda uma tradição académica que despreza as obras artísticas que provocam reacções físicas. Porquê? Há várias hipóteses, mas, para já, basta verificar que na antiguidade clássica havia um género maior, que era a tragédia, que se voltava para o mundo das ideias, e um género menor, que era a comédia, direccionado para o mundo físico e grotesco, e que essa tradição foi sendo perpetuada até aos nossos dias com a noção do romance dito de histórias em detrimento do romance dito de ideias. A alimentar o preconceito contra a literatura fantástica também se encontra o facto de existirem tantas péssimas obras de literatura fantástica publicadas. Na verdade, existem tantas ou ainda mais obras péssimas de literatura dita erudita publicadas, mas, infelizmente, aquilo que é mau acaba por ter uma difusão, uma exposição maior e aquilo que, à partida, já não tem credibilidade aos olhos do discurso crítico em vigência, também não tem oportunidade de mostrar o seu valor. Até faz lembrar o preconceito contra a banda desenhada, que não é um género, mas uma linguagem. Quando a crítica acaba por gostar de uma determinada obra de banda desenhada lembra-se logo de chamá-la de romance gráfico ou novela gráfica, numa tentativa pateta de credibilizá-la, mas o que é que isso, ao fim e ao cabo, significa? Não significa nada, até porque a própria designação de romance gráfico encontra-se desactualizada e desacreditada, pois foi, em primeiro lugar, uma invenção de marketing, sem qualquer substrato legítimo. Uma banda desenhada é uma banda desenhada, ponto, e um romance é um romance. São linguagens diferentes, mas nenhuma é mais credível que a outra. Prosseguindo neste sentido é fácil compreender que o discurso da crítica diz mais ou menos o mesmo quando acaba por gostar de uma obra de literatura fantástica.
No seu livro damos com o lado negro do Infante D. Henrique e também com a sua homossexualidade (dispondo até de um harém de rapazes). Imaginamos que os leitores tenham curiosidade em saber o que é real e o que é ficção.
Para desenvolver essa personagem, baseei-me, em especial, nas informações históricas que encontrei em dois livros: “Prince Henry ‘the Navigator’: a Life” de Peter Russel e “Dois Estudos Polémicos” de Harold B. Johnson. Ambos são unânimes em apontar incongruências na história tradicional associada ao mito henriquino, como a inexistência da chamada Escola de Sagres e do plano que o Infante tinha para dar início à senda das descobertas marítimas portuguesas, mas, apesar de Russel já avançar com algumas hipóteses menos simpáticas para a personalidade de Henrique, Johnson é quem desenvolve com maior incomplacência a tese de que este seria um homossexual com laivos de psicopatia.
Para o efeito, suporta-se em documentação coeva e em algumas deduções engenhosas que, apoiadas naquilo que se sabe ser biográfico, fazem sentido. Existe também na “Crónica do Descobrimento e Conquista de Guiné”, de Gomes Eanes de Zurara, a indicação de que este cronista baseou o retrato que plasmou de Henrique numa crónica anterior, escrita por Afonso Cerveira: ora, este trabalho (e o próprio Cerveira…) desapareceu misteriosamente e é Zurara que na “Crónica do Descobrimento e Conquista de Guiné” dá a entender que o seu livro é, propositadamente, elogioso, efabulado e feito por encomenda de modo a que Henrique tenha uma imagem de inatacável beatitude. Com efeito, pode ler-se na “Monumenta Henricina” o texto da bula do Papa Martinho V, na qual ele confere a Henrique o direito de contrair matrimónio com qualquer mulher que desejasse, independentemente do grau de consanguinidade, logo a desculpa de que Henrique não se casou porque os seus deveres para com a Ordem de Cristo assim o exigiam é falsa. Isto só por si não significa nada, porque os espíritos livres muitas vezes recusam trilhar caminhos que pertencem ao grosso dos homens ditos comuns (casar, constituir família, etc.), mas o que interessa reter é que Henrique, de facto, tinha total autorização para encetar esse caminho, se assim o quisesse. Johnson também analisa as relações de poder e intimidade que Henrique teve, ou poderia ter tido, com o seu séquito de rapazes, criados, como ele diz, na sua própria câmara. O que o livro de Johnson, e o de Russel, também, vem mostrar é que o estudo da história não pode ser feito das leituras assépticas e bem-comportadas que foram sendo transmitidas de geração em geração de maneira a veicular interesses que, na maioria das vezes, nada têm a ver com o estudo da própria história. Ora, esses mitos não nos esclarecem sobre os nossos antepassados, mas um escritor, felizmente, não está agrilhoado às mesmas responsabilidades de um historiador e pode atrever-se a imaginar. Na verdade, atrever-se a imaginar é a sua maior responsabilidade.
Numa análise menos profunda, por exemplo, sem ir buscar os livros de Russel e Johnson, percebe-se que a imagem de beatitude que se quis imputar ao Infante D. Henrique não se sustenta. Basta ler sobre o encontro que ele teve com D. Duarte, em Portel, depois do desastre tangerino, e em que ele tenta convencer o rei de que a melhor solução é voltar a Tânger com um novo exército de milhares de homens, num momento em que as fazendas do reino estavam pela hora da morte. Uma acção deste tipo revela várias coisas sobre a personalidade do Infante D. Henrique, se lermos as entrelinhas com atenção. Em “O Evangelho do Enforcado”, o meu Infante D. Henrique é tão psicótico quanto Nuno Gonçalves: é egocêntrico, mal-intencionado, mentiroso e manipulativo. Na verdade, a maioria dos psicopatas são mesmo assim, não são assassinos como os filmes de Hollywood nos habituaram a crer: são indivíduos que conhecem as diferenças entre o bem e o mal, mas não querem saber delas. Não têm pudor nenhum em manipular os outros para alcançar os seus objectivos.
Em suma: não sei, como é óbvio, se o retrato que Johnson patenteia sobre o Infante D. Henrique é correcto ou se vai ao encontro do verdadeiro Henrique, mas se for isso não me faz confusão nenhuma. O livro dele é um esforço que interroga determinados conceitos que a opinião tradicional tem como garantidos e isso, à partida, só pode servir para abrir caminhos para novas linhas de investigação histórica, mais rigorosas e menos preocupadas em perpetuar certos mitos que só servem para nublar a própria história.
Há alguma diferença entre o escritor que escreveu Lisboa Triunfante e o escritor que acaba de escrever O Evangelho do Enforcado?
Nenhuma. Continuo a ser animado pelo mesmo espírito, a ter a mesma voz e a interessar-me pelos mesmos temas: o estudo da história, o oculto, o fantástico.
Apresenta uma extensa bibliografia no seu novo livro. Quais têm sido as suas principais referências literárias? Que livro leu ultimamente que mais o tenha impressionado?
Estas perguntas nunca são fáceis de responder, porque, de maneira geral, leio tanta coisa que me dá sempre uma branca no momento de escolher um título ou autor preferido. É mais ou menos como querer passar o Rossio pela Rua da Betesga, mas, de qualquer das formas, as minhas leituras habituais são livros de história, de divulgação científica e outras bizarrias e excentricidades. Nem sempre tenho tempo para ler mais ficção, porque a quantidade de informação que preciso de ler para escrever os meus romances não me deixa muito tempo livre para outra espécie de leituras, mas o último livro de ficção que li foi “Laura Warholic or, The Sexual Intelectual” de Alexander Theroux, um dos meus ficcionistas preferidos e autor do, provavelmente, melhor livro que já li até hoje: “Darconville’s Cat”. Também li o “2666” do Roberto Bolaño, que é bastante bom. Há dois anos li um livro de ficção que me impressionou bastante e que se intitula “Observatory Mansions”: o autor chama-se Edward Carey e é um livro bom que se farta. Uma das minhas obras preferidas de sempre é “The Third Policeman”, de Flann O’Brien, que é um título fabuloso em todos os sentidos da palavra.
Como vê o momento actual da Literatura Portuguesa?
Não tenho resposta para essa pergunta, por uma razão muito simples: estou tão concentrado no meu trabalho que não tenho a distância necessária para avaliar com justiça o panorama literário português. Vou lendo a imprensa especializada, mesmo assim, e quando visito as livrarias vou percebendo algumas tendências e certas molduras de referência, é claro, mas existem tantos autores e livros que ainda não li que qualquer coisa que eu pudesse responder agora seria de pouca relevância.
Mais entrevistasVoltar