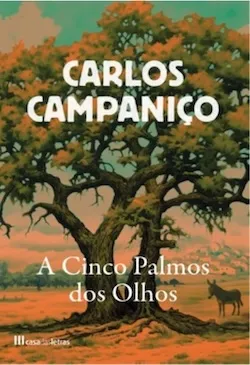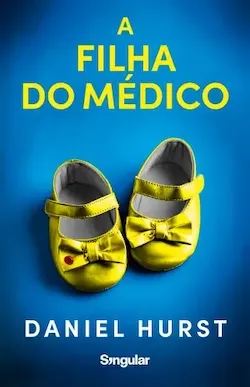Folheando com... Tânia Ganho

Tânia Ganho
2010-08-30Publicou os romances A Vida Sem Ti, Cuba Libre e, mais recentemente, A Lucidez do Amor. Se preferir ouvir a entrevista, clique aqui.
 | |
Foi publicado recentemente o seu livro A Lucidez do Amor. Sobre o Amor já houve quem tivesse dito que «A prudência e o amor não se fizeram um para o outro». O Amor é visto como uma encantadora loucura, enquanto a Lucidez puxa pela racionalidade. As perguntas são: Vê racionalidade no Amor? Porque escolheu este título?
Começo pela segunda pergunta. A escolha de um título é sempre difícil, excepto para um autor como Saramago que geralmente começava pelo título e só depois é que lhe surgia a história. No meu caso, o título costuma ser complicado, porque tenho sempre várias hipóteses, mas este, por sinal, foi bastante evidente, porque eu já sabia que queria escrever sobre o amor e em especial sobre o amor aliado à guerra. Queria escrever sobre aquilo que regra geral não é material da literatura: um casal feliz. Geralmente os casais felizes não interessam a ninguém, são felizes e ponto final, todas as histórias de fadas acabam aí. Eu queria escrever sobre um casal que é feliz e que, por força das circunstâncias – a personagem masculina parte para a guerra, a guerra do Afeganistão –, tem de lidar com vários obstáculos. Em primeiro lugar, há a distância, a separação. Em segundo lugar, há a questão de como é que uma mulher lida com o facto de saber que o marido se vai meter num avião, que é uma arma de guerra, e matar inocentes. É aí que surge a “lucidez do amor”. Uma coisa é a paixão, que é irracional, impulsiva, e outra coisa, para mim, é o amor, que exige muita lucidez para poder aceitar as falhas todas da pessoa com quem se vive, da pessoa de quem se gosta. Acho que é preciso ser-se muito racional para não desistir de uma relação.
No caso das personagens d’A Lucidez do Amor… tudo corre bem em tempo de paz, mas a partir do momento em que a Paula sabe que o marido – que em tempo de paz faz voos simplesmente, é piloto – vai partir para o Afeganistão, começa a questionar quem é a pessoa com quem vive. Ela jamais seria capaz de acatar ordens do tipo “agora meta-se num avião e vá largar uma bomba sobre uma aldeia afegã”... É preciso ser-se muito lúcido para não se desistir de amar uma pessoa que aceita uma ordem dessas, para não se desistir de uma relação e não rotular a outra pessoa de “militar”, com todas as conotações pejorativas que em Portugal associamos à profissão de militar. É necessária uma grande dose de lucidez para aceitar que a pessoa com quem vivemos é complexa.
A Lucidez do Amor tem como palco o Afeganistão, poucos meses depois do 11 de Setembro. Houve alguma razão especial para ter escolhido este palco de guerra?
Há duas viagens no livro: a personagem masculina, o Michael, faz a primeira viagem ao Afeganistão logo a seguir ao 11 de Setembro – inserido na primeira leva de soldados franceses que partiram para terras afegãs –, e a segunda em 2006, e é essencialmente essa que é narrada ao longo das 300 páginas do romance.
Respondendo à pergunta “porquê o Afeganistão?”: por dois motivos. Em primeiro lugar, porque na altura eu vivia em França, perto de uma base aérea de onde partiam todos os meses pilotos, navegadores e mecânicos, para o Afeganistão; e em segundo lugar, porque em países como a França e a Alemanha, por exemplo, o Afeganistão está muito mais presente do que aqui em Portugal. Em Portugal, ouvimos de vez em quando nas notícias que houve X soldados que foram mortos, mas em França é uma coisa que está nos noticiários todos os dias, é uma realidade muito presente. Daí a minha curiosidade em explorar esse teatro de guerra e não outro.
Sabemos que ama a literatura e que se assume perfeccionista no seu trabalho de tradutora e na sua escrita. Como é o seu processo criativo: é dos que escrevem horas a fio quando estão inspirados, ou dos que se organizam e escrevem com método e disciplina? Qual dos seus livros esteve mais tempo a amadurecer?
Mais uma vez, começo pela segunda pergunta. O livro que demorou mais tempo a amadurecer foi este terceiro. Foram quase três anos de gestação, porque tive de fazer muitas pesquisas, investigar termos técnicos, tudo o que está relacionado com aviões, com a guerra, e isso exigiu horas de trabalho, a consulta de jornais – tive de consultar os jornais todos da época, de 2006. Todos os capítulos do livro fazem referência às notícias do dia, quantos mortos, quantos atentados à bomba, etc., houve no Afeganistão. Tudo isso é real, foi mesmo tirado da imprensa, e exigiu meses de investigação.
Os outros livros foram mais espontâneos, se bem que haja sempre uma dose de pesquisa nos meus romances, porque eu gosto de escrever histórias actuais, íntimas, de pessoas muito concretas, com uma vida pessoal muito desenvolvida, mas sempre inseridas num quadro mais geral, mais histórico; há sempre a realidade actual das notícias que interfere com a vida das minhas personagens. Isso exige uma certa preparação, por isso não sou daquelas pessoas que escreve livros em dois meses. Ou em três semanas. Ando muito tempo com as personagens na cabeça. No livro que estou a escrever agora, que será o quarto, a personagem principal é uma rapariga que faz chapéus... tenho esta personagem na cabeça desde 2006. Entretanto, publiquei dois livros, mas ela já vive comigo há muito tempo. E essa personagem também me exige muita investigação. Como não sou modista e não entendo nada de chapéus, ando há quase um ano a fazer pesquisa sobre o assunto.
Quanto à maneira como escrevo, tenho um método um bocado sem método… Vou roubando tempo às traduções. Por exemplo, agora parei as traduções durante dois meses para me dedicar exclusivamente à escrita, e depois retomo-as em Outubro. Quando estou a traduzir, tenho de escrever à noite e aos fins-de-semana. Conciliar a vida familiar e a vida das traduções com a escrita nem sempre é fácil. Não sou daqueles escritores que trabalham das nove às cinco todos os dias, que escrevem duas mil palavras ou seja lá o que for. Eu não faço a mínima ideia de quanto escrevo por dia... Escrevo quando tenho alguma coisa para dizer.
Foi redactora em várias revistas, mas acabou por optar pela tradução literária. Por algum motivo especial?
Porque eu acho que tudo aquilo que tenho vontade de escrever, escreverei nos meus livros. Portanto, ser redactora ou jornalista – houve uma altura em que trabalhei numa revista e tinha mesmo de escrever reportagens, críticas de cinema, etc. –, é uma coisa que não me interessa. Interessa-me escrever livros, romances. Gosto de escrever contos e histórias que me peçam de vez em quando, isso sim, é sempre um desafio engraçado, mas para viver no dia-a-dia, como sustento financeiro, prefiro a tradução, que é assumidamente a escrita de outra pessoa e eu sou apenas um intérprete, um intermediário.
O facto de ser tradutora literária acaba necessariamente, pensamos nós, por ter influência do que escreve. Que obra mais a influenciou como escritora?
Das obras que traduzi, nenhuma. Há uma separação muito grande e muito nítida entre o trabalho da tradução e o trabalho da escrita. Para mim, são duas coisas completamente diferentes. Há uma certa influência no sentido em que, por exemplo, quando estou a traduzir um livro, me apercebo de coisas que eu não quero fazer na minha escrita. Vejo que um autor utilizou determinada técnica para transmitir uma mensagem e acho que não resulta, há ali qualquer coisa que falha e, como tal, decido não usar essa técnica. Quando traduzo um livro, estou extremamente dentro do texto – o tradutor é a pessoa que está mais dentro do texto, até mais do que o próprio escritor; nós lemos o mesmo livro N vezes, até à exaustão, revemos a mesma frase dez vezes, se for preciso, para chegar à frase certa e, portanto, estamos muito dentro da mecânica do texto, como é que o texto foi construído. Muitas vezes analiso aquilo de que não gostei quando estava a traduzir e penso “não, não vou fazer isso no meu livro. Até tinha pensado em usar esta técnica, mas não, não a vou usar”. A tradução, por outro lado, ajuda-me muito nos diálogos. Antes de me dedicar à tradução literária a tempo inteiro, eu raramente escrevia diálogos e, agora, depois de ter traduzido tantos diálogos, acho que já consigo ver o que é que funciona e já me saem “falas” mais naturalmente. Mas, para mim, a influência da tradução na escrita fica-se por aí.
Olhando para a sua biografia, damos conta que é, permita-nos o termo, uma europeia genuinamente nómada: nasceu em Coimbra, estudou em Lisboa, viveu em Londres, esteve meio ano na Alemanha, viveu dois anos em Nancy, três anos em Paris e está de novo em Lisboa sem que saibamos por quanto tempo. O que a faz correr, Tânia Ganho?
Curiosidade. Sou uma pessoa muito curiosa e preciso de estar constantemente a ser estimulada, no sentido em que tenho de estar num sítio onde não domine tudo, onde não conheça exactamente as reacções das pessoas e onde nada seja previsível. Por exemplo, o meu regresso a Lisboa... É muito engraçado, porque estou a redescobrir Lisboa. Em primeiro lugar, porque nunca cá tinha vivido casada e com um filho, portanto descubro toda uma outra vida que não conhecia (eu levava uma vida de solteira, saía à noite… hoje em dia, tenho uma vida pautada por horários escolares e centros de actividades, coisas que não me interessavam minimamente antes) e, assim sendo, há sempre desafios e coisas que me estimulam a curiosidade e é isso que me faz sentir que estou viva.
Lemos numa entrevista que deu que prefere a escrita de mulheres (entre vários exemplos, citou a Nobel Doris Lessing e as escritoras Ana Teresa Pereira e Teolinda Gersão). Pode explicar-nos o porquê, com mais detalhe? Se lhe pedirmos que referencie duas obras escritas por homens, que livros escolheria?
É difícil dizer… Dos homens, escolho já Os Cus de Judas do António Lobo Antunes. É um livro que já li várias vezes e que me faz descobrir sempre qualquer coisa. A linguagem é riquíssima. A linguagem e os sentimentos.
Agora, dizer que prefiro a escrita de mulheres é daquelas frases que dão azo a comentários e nem sempre muito simpáticos. (risos) Quando digo que gosto da escritas de mulheres é porque gosto de uma escrita em que haja muito sentimento. Não estou a falar de romances de cordel, não é isso. Refiro-me a uma escrita em que haja uma grande carga sentimental, em que se fale da vida íntima das pessoas. E acho – e não sou a única, porque já houve estudos feitos sobre isso – que, regra geral, os homens tendem a escrever menos sobre a intimidade do que as mulheres, há menos carga emocional e mais enredo, há mais acção, e eu gosto de livros muito fechados sobre si mesmo. Gosto de ler um livro e sentir que estou dentro da cabeça de uma personagem, e que estou a viver e a acreditar naquilo. Os Cus de Judas é o exemplo de um livro onde a emoção está lá toda, é um livro escrito com as entranhas. É esse o tipo de romance que me interessa. Por outro lado, a Doris Lessing, por exemplo, tem uma escrita muito eclética, não se pode dizer que seja só escrita de mulheres e que ela só escreva sobre mulheres – como fez brilhantemente, por exemplo, num conto que se chama Para o Quarto 19 e que é uma maravilha, é um conto pequenino, mas extraordinário. Lessing também tem livros completamente diferentes, portanto não quero ser redutora e dizer “só gosto de escrita de mulheres”, porque as pessoas vão ficar com a ideia errada.
Homens… Pediu-me dois livros. O Lobo Antunes… e, assim de repente, veio-me agora o Phillip Roth à cabeça. Hum, vou ter de pensar no assunto. (A posteriori, a autora acrescenta: Dostoievski, Scott Fitzgerald, Reinaldo Arenas, Vargas Llosa, Martin Amis, Richard Yates, Jorge de Sena e, de repente, a lista de autores masculinos é longuíssima.)
Conhece certamente bem duas literaturas: a de expressão portuguesa e a de expressão inglesa. Gostávamos de lhe pedir que nos fizesse um paralelismo entre ambas.
A literatura inglesa e a literatura portuguesa são muito diferentes, mas tendem a tornar-se mais parecidas, com a nova geração de escritores, como o João Tordo. A literatura inglesa é muito mais enredo (plot) e acção... Agora por falar nisto, lembrei-me de um autor, o Ian McEwan. Ian McEwan consegue explorar a vida íntima das personagens – por exemplo, em Solar, ele entra perfeitamente na cabeça e nos sentimentos da personagem masculina e, ao mesmo tempo, consegue tecer-nos um livro onde há muito enredo, há muita acção, e há também toda a pesquisa científica (muito interessante) que ele fez. Os autores portugueses, regra geral, escrevem livros mais estáticos, mais descritivos, com menos história, menos narrativa. Mas, como disse, acho que isso está a mudar. Há cada vez mais a tendência para se contar histórias, com princípio, meio e fim.
Nesta fase do campeonato já deve ter outro romance na cabeça! Pode levantar um pouco o véu?
O meu terceiro livro explora o Amor, enquanto o romance que estou a escrever agora é sobre a Paixão, sobre sentimentos violentos. Passa-se em Paris, Paris é quase uma personagem do livro, tem muito peso… mas prefiro não dizer mais nada.
2010-08-27
Mais entrevistas
Voltar