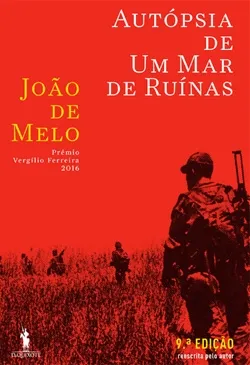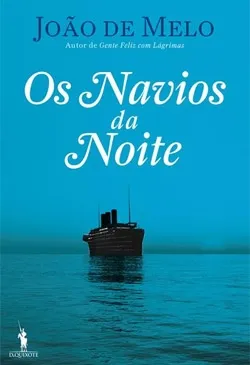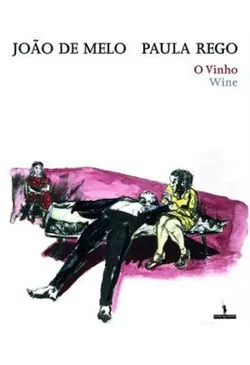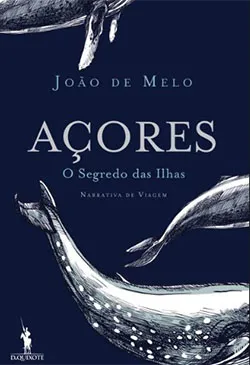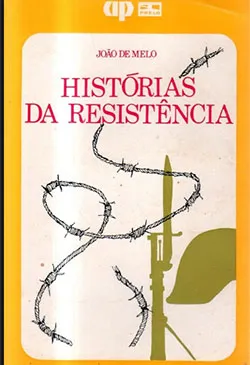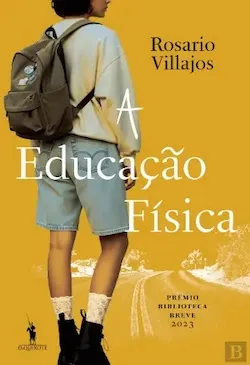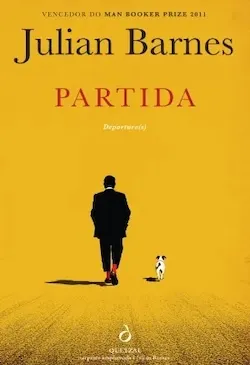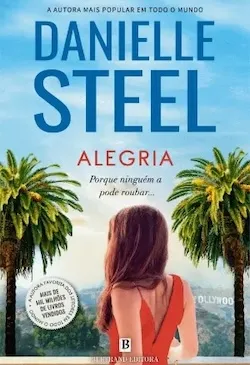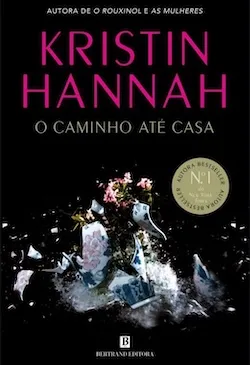Sinopse
A Ibéria não passava de uma ilha, porventura inaudita ou meramente imaginária (...) o que existia era tão-só estranheza, ignorância, um vazio tenebroso dentro e fora das casas, o ressentimento histórico, a inexistência mútua.
Críticas ao livro " O Mar de Madrid "
Fonte:
Maria Graciete Besse
Arqueologia de uma estranheza ibérica: O Mar de Madrid, de João de Melo
“La Relation relie (relaie) relate”
Edouard Glissant, Poétique de la Relation
“A Ibéria não passava de uma ilha, porventura inaudita ou meramente imaginária (...) o que existia era tão-só estranheza, ignorância, um vazio tenebroso dentro e fora das casas, o ressentimento histórico, a inexistência mútua.”
João de Melo, O Mar de Madrid
Num ensaio publicado em 1969, intitulado L’Intention Poétique, o escritor antilhês Edouard Glissant, evocava a experiência da alteridade nos seguintes termos:
“Or que ferons-nous au monde les uns et les autres (...) qui portons d’aussi contraires motivations? (…) Comment façonner nos contraires tremblements – sinon par la relation qui n’est pas tout court l’impact ni le contact, mais plus loin l’implication d’opacités suaves et intégrées ? »
Nesta perspectiva, a Relação, categoria dinâmica e fecunda que atravessa praticamente toda a sua obra, remete para uma interessante forma de reflectir acerca dos laços entre o Mesmo e o Outro, longe das dúvidas e dos medos, bem enraízados nos preconceitos históricos e nos estereótipos que fazem parte de cada cultura. Ao articular as “opacidades” sem desnaturar as identidades singulares, a Relação “liga (relaciona) relata”aquilo que o escritor designa como “les traces de nos histoires offusquées”.
Edouard Glissant desenvolveu amplamente esta ideia na conferência de abertura de um colóquio realizado em Paris em 2009, consagrado às relações entre culturas ibéricas e ibero-americanas, em que também participou Eduardo Lourenço. O ensaísta português lembrou nessa altura que a relação entre Portugal e Espanha se fundamenta numa mitologia alimentada por um desconhecimento mútuo, mesmo se houve períodos em que as duas culturas se misturaram. Depois de evocar o seu percurso pessoal e a maneira como descobriu a cultura espanhola, Eduardo Lourenço acrescentou que, num dos seus ensaios se tinha interrogado sobre a função da Europa, concluindo que afinal a construção europeia tinha permitido pelo menos um “pequeno milagre”, bem visível numa maior aproximação entre Portugal e a Espanha, que podemos observar nomeadamente nos últimos anos.
As relações complexas entre os dois países peninsulares continuam assim a ser largamente discutidas, depois de terem dado lugar a numerosas polémicas, cristalizadas, na segunda metade do século XIX, em torno da questão ibérica, que oscilou quase sempre entre utopia e distopia, com grandes repercussões nos respectivos imaginários sócio-culturais, criando variados ressentimentos que ainda não desapareceram por completo, como nos revela O Mar de Madrid, de João de Melo, romance publicado em 2006, propondo-nos, entre o irónico e o metafórico, a arqueologiade uma estranheza fundamental que se verifica ainda hoje entre os dois povos ibéricos.
O iberismo, da utopia à distopia
Numerosos historiadores, poetas e romancistas alimentaram a ideia de uma improvável “poética da Relação”, susceptível de revisitar tanto a pluralidade como a imbricação dos lugares e das culturas peninsulares. De Antero a Saramago, passando por Oliveira Martins, Pascoaes e Torga, entre muitos outros, os intelectuais portugueses nunca deixaram de reflectir sobre uma identidade sempre relacional mas raramente recíproca, como observa Boaventura de Sousa Santos num estudo consagrado à figura de “Caliban na Europa”.
O iberismo desenvolveu-se sobretudo a partir de 1852, com a publicação da obra de Sinibaldo de Mas y Sanz, A Ibéria, que conheceu várias edições, preconizando uma união pacífica de cariz monárquico. Nas três décadas seguintes, foram publicados mais de 150 títulos dedicados a esta construção mental que, em função das metamorfoses históricas e dos matizes ideológicos, assumiu essencialmente duas possibilidades : por um lado, a ideia de uma monarquia unitária e, por outro, as propostas federalistas, na sua maioria republicanas, cada uma com os seus defensores e os seus irredutíveis adversários.
Na célebre conferência do Casino de 1871, consagrada às causas da decadência dos povos peninsulares, Antero de Quental, aspirava utopicamente a uma federação republicana mas o seu utopismo, como já mostrou Eduardo Lourenço, era sobretudo de essência ética. Na verdade, “se Antero é sempre movido por uma exigência de caracter ético e pela busca de uma visão holística da realidade social e política, a emoção, a paixão das ideias e das causas predomina por sobre a vontade ou a capacidade em criar um sistema coerente de ideias, do mesmo modo que sempre oscila entre o apelo à acção e a entrega à introspecção poética e angustiada, o que, aliás, faria dele sobretudo um criador”, nas palavras de Fernando Pereira Marques.
Na História da Civilização Ibérica (1879), Oliveira Martins defendia a existência de uma só alma peninsular, formada por duas entidades políticas distintas, mas com uma unidade geográfica, social e cultural com raízes berberes comuns, combinadas com a influência latina. O seu iberismo coincidia com o de Unamuno, pois nenhum dos dois intelectuais “pensou nunca num iberismo político, cuja impossibilidade se havia demonstrado ja através dos séculos; mas também nenhum dos dois pensou que a solução federalista seria boa.”. Por seu lado Teófilo Braga preconizava, em 1876, uma federação republicana de base etnológica, inspirada no catalão Pi y Margall, enquanto o Integralismo Lusitano de António Sardinha evocava, em 1915, a individualidade portuguesa no seio de uma unidade hispânica.
As propostas de união peninsular provinham tanto de conhecidos intelectuais portugueses como espanhóis que, através de livros, conferências, artigos de jornais, folhetos, hinos e numerosos panfletos, animaram um debate público particularmente vivo nas últimas décadas oitocentistas. No entanto, apesar da sua intensidade historicamente apaixonada, o iberismo nunca encontrou uma verdadeira concretização política, incentivando antes a formação de associações defensoras de um “nacionalismo exacerbado”, que multiplicavam visões pejorativas sobre os Espanhóis, apresentados como “sanguinários” e ameaçadores, em contraste com os brandos costumes portugueses, gerando estereótipos em que o vizinho assumia inevitavelmente a figura assustadora do Outro. Da mesma forma, do lado espanhol, surgiam representações caricaturais dos Portugueses, convergindo na falta de entendimento de que já se queixava Unamuno. Como observa Sérgio Campos Matos, as representações utópicas e distópicas do iberismo configuraram afinal um “debate público sobre a nação, o seu presente, passado e futuro”, numa época particularmente marcada pela tensão entre o desejo de regeneração e o sentimento de decadência.
O plano de uma Federação Ibérica segundo o qual a Espanha se deveria dividir em territórios autónomos com a capital em Lisboa, tal como defendia Teófilo Braga, não era muito diferente da proposta de José Saramago que, numa entrevista concedida ao Diário de Notícias em 15 de Julho de 2007, afirmava : “Não sou profeta, mas Portugal acabará por integrar-se na Espanha”, provocando grande polémica. Esta ideia, já desenvolvida de forma alegórica em A Jangada de Pedra (1986), foi ainda sublinhada pelo romancista em 1988, num artigo intitulado “O (meu) iberismo”, onde se afastava do ideário de cunho providencialista, como também das suas raízes nacionalistas, para evocar antes a necessidade de uma “harmonização dos interesses” ibéricos, inscrita num discurso global trans-ibérico, revelando alguns pontos de contacto com a perspectiva glissantiana da “totalidade-mundo” (“tout-monde”).
Como Eduardo Lourenço já o demonstrou amplamente, os “nossos destinos foram sempre paralelos ou cruzados, nunca opostos enquanto culturas”, acrescentando que "o anti-espanholismo é uma doença infantil do nacionalismo que está já longe de ser o radical amor sem complexos de nós mesmos”. Se, para alguns pensadores, o Português é um “castelhano sem ossos”, como afirmava Unamuno, para outros, Espanhóis e Portugueses são inseparáveis, como macho e fêmea, na expressão de Natália Correia, que também defendeu o projecto pluricontinental de uma identidade mista formada pela Península Ibérica e a sua continuação cultural projectada na América Latina, numa obra sugestivamente intitulada Somos todos Hispanos.
Como bem sublinha Boaventura de Sousa Santos, neste “jogo de espelhos, ora se salientam os contrastes, ora se salientam as cumplicidades”, sendo claro que existe efectivamente, como afirma Gabriel Magalhães, um “fantasma que habita a casa da Ibéria – o fantasma das suas muitas contradições, das suas infinitas desfocagens e ininteligibilidades”. A “dupla parede” que, na opinião deste estudioso, separa os dois países ibéricos prolonga-se para além de Oitocentos e pode ser identificada ao longo do século XX, chegando até aos nossos dias. Esta fronteira bem perceptível nas complexas relações entre as duas culturas vizinhas poderia fundamentar-se, para além das óbvias razões históricas, naquilo que Edouard Glissant e Patrick Chamoiseau designam como a “tentação do muro”, feita de mútua ignorância, fechamento e arrogância autoritária. Tal é também a ideia central do romance de João de Melo que, ultrapassando a dimensão da utopia e da distopia, nos propõe, como veremos, uma interessante visão heterotópica do espaço ibérico.
Cartografias peninsulares
Em O Mar de Madrid, o escritor de origem açoriana mobiliza os grandes tópicos da viagem e do olhar, para narrar as desventuras de um poeta lisboeta, Francisco Bravo Mamede, que se apaixona, em terras castelhanas, por uma romancista catalã, Dolors Claret, com quem se cruza em Madrid, num gélido mês de Fevereiro, por ocasião de um colóquio universitário onde participam alguns escritores ibero-americanos. Apesar de várias tentativas que passam por uma conturbada fuga até Toledo, os dois amantes nunca se conseguem entender, ilustrando o desencontro fundamental que nasce da irredutível estranheza ibérica.
O romance abre com um prólogo em que o autor, à maneira de Cervantes, propõe um aviso ao leitor, comunicando-lhe de imediato o seu objectivo e estabelecendo um protocolo de leitura:
“Falo de “estranheza”. De um fenómeno absurdo que se foi instalando, ao longo de anos e séculos - como um fungo ou um líquen – entre os chamados “países vizinhos”. A estranheza a que me refiro, mais do que um paradoxo observável a nível de pessoas que em tudo parecem iguais dos dois lados da mesma fronteira, acaba por gerar a sensação da “impossibilidade permanente” entre sociedades contíguas” (p.13)
Através do comentário paratextual, João de Melo estabelece assim um pacto de confiança com o leitor, indicando-lhe claramente um roteiro a seguir, ao informá-lo da sua intenção de “contar algo que se parecesse com uma “comédia dramática” – os seus ridículos de permeio e à mistura com a boa disposição que as caricaturas quase sempre inspiram ao lidarem com uma ideia de amor prolixa, atabalhoada, perdida, mas que ainda assim inclui a nobreza do sentimento amoroso entre um homem e uma mulher” (p.13-14). Por outro lado, essa intenção corresponde ainda a “ um desejo de mar em Madrid” (p.14), levando o autor a explicitar o sentido do seu título insólito que deve ser entendido metaforicamente. A intertextualidade cervantina surge ainda nos sumários que precedem cada um dos quinze capítulos do romance, bem como no itinerário quixotesco do poeta português, autêntico cavaleiro andante enamorado, transformado em ridículo significante de um drama simbólico, simultâneamente pessoal e nacional.
A categoria do espaço, já presente no título enigmático do livro, é largamente privilegiada ao longo da narrativa, através do progressivo alargamento do olhar dos dois impossíveis amantes que, antes do fatal desencontro, já tinham viajado por terras ibéricas, constatando as suas semelhanças e sobretudo os seus contrastes. No périplo inicial através das paisagens peninsulares, tanto o modesto poeta português como a bela romancista catalã, casada com Victor, um galego rico e infiel, são assimilados a turistas, viajando ambos com os respectivos cônjuges: Francisco, ávido de descobrir a alteridade espanhola, ao lado de Branca, a esposa indiferente, de “corpo grosso e decadente” (p.28), Dolors que, sem grandes ilusões, tenta consertar um casamento sem sentido, graças à travessia dos espaços turísticos portugueses (Lisboa, Sintra, Porto...), o que significa que a situação de crise se identifica, logo de início, no relacionamento dos dois casais legítimos.
A narrativa trabalha a horizontalidade das paisagens tanto espanholas como portuguesas, segundo uma percepção visual associada à motricidade dos viajantes-espectadores, que mobilizam o olhar do intelecto, mas também o da contemplação e o do imaginário, para tecer uma reflexão questionante que converge quase sempre na ideia de um estranhamento essencial. Francisco Bravo Mamede que, ao longo do tempo, à medida da sua ascensão como poeta, efectua várias viagens em terras espanholas, conhece uma progressiva evolução que o leva da figura de turista, ou seja, aquele que procura apenas sensações e experiências novas, “estranhando quase tudo o que se lhe deparava” (p.26), à figura de peregrino, o que implica um itinerário com marcas de religioso no sentido etimológico do termo (religare), antes de passar a fronteira com familiaridade, julgando-se aberto a um intercâmbio cultural sem atritos e capaz de funcionar em termos de igualdade. No entanto, é de salientar que, no início do seu itinerário, as paisagens em movimento lhe provocam sobretudo um desejo da posse : “Farejava o horizonte para além do visível e do mensurável, com vontade de o possuir” (p.27), anunciando já uma evidente pulsão conquistadora. Por seu lado, ao chegar a Portugal pela primeira vez, entrando por Elvas, Dolors constata que Portugal é uma espécie de “comunidade imaginada” (B.Anderson), uma vez que :
“Estranhou quase tudo (...) “Nada afinal em Portugal se parece com a Espanha”, pensou ela com surpresa, porquanto nada daquilo correspondia ao que esperava ver no país vizinho.” (p.39)
Da mesmo forma, ao contemplar com o marido a beleza de Lisboa, do alto da ponte de 25 de Abril, Dolors e Victor “permaneceram calados (...) não tinham ideia nenhuma acerca do que vinham visitar” (p.44), mesmo se, em seguida, a catalã descobre uma afinidade secreta com a cidade, apesar de reconhecer a sua “indigência cultural” (p.49) relativamente a Portugal, o que a leva a comprar “de uma assentada, de olhos fechados, as antologias de poesia e prosa que lhe disseram haver disponíveis no mercado” (p.49).
Tanto o andarilho português como os turistas espanhóis possuem da terra ibérica uma representação mental que não se enquadra completamente na realidade vivida. Os dois escritores pretendem escrever um dia sobre o território vizinho, mas a sua experiência viática, inscrita na tensão entre o ver e o ser visto, funciona essencialmente a partir de um olhar exotópico que nunca se confunde com o estrangeiro, mesmo se por vezes o avalia e interroga, desenhando uma configuração do espaço marcadamente subjectiva. O narrador mostra de que maneira Francisco vibra com a terra e a cultura espanholas, e como Dolors se revela muito sensível às “linhas quase líquidas da paisagem” (p.35), à geometria de cidades como Lisboa e Porto, ao binómio feminino/masculino das “paisagens excessivas” e angustiantes da Galiza (p.54). Este excesso relaciona-se claramente com o seu drama conjugal e a imagem de Victor “arrogante, boçal” (54), confirmando a ideia de que a paisagem, como já o sublinhou Michel Collot, não designa apenas os lugares físicos por onde se passa, mas deve ser relacionada com a “matéria-emoção” e com o “corpo-cosmos”, que definem uma exploração simultânea da consciência e do mundo.
A acumulação de percursos e experiências que se desenvolvem no romance de João de Melo, ao ritmo da deslocação e da qualidade do olhar das personagens, define uma dinâmica que permite também estabelecer um contraste entre centro e periferia. Quando os dois escritores se encontram no congresso de Madrid, cidade que representa o centro ibérico por excelência (“Toda a Espanha é um círculo imaginário com o centro em Madrid – para vigiar no mapa as cidades e as províncias, as ruas e as casas, as vozes mudas do céu, a terra, o mar” p.26), o que os aproxima é um idêntico sentimento de estranheza e de fascínio, que os ultrapassa e, ao mesmo tempo, os faz mergulhar na “comédia dramática” que o autor evocava no prólogo.
Se a cartografia espacial do romance é caracterizada pela diferença, também no que diz respeito ao tratamento do tempo, o narrador não deixa de sublinhar a permanência da estranheza entre as culturas adjacentes, visto que “a ideia do tempo não podia ser a mesma nos dois países” (p.26). Toda a intriga romanesca gira em torno de uma dupla deslocação em tempos diferentes, acumulados como sedimentações de um percurso que prepara, de certo modo, o drama central do desencontro amoroso. Identificamos assim, por um lado, os diversos itinerários do poeta que descobre os campos e as cidades espanholas com grande fascínio, fazendo turismo em Agosto, na companhia de uma esposa aborrecida e depois, enquanto escritor confirmado, visitando “ao acaso todo o mapa de Espanha (...) a convite de universidades e fundações culturais” (p.61), ou fugindo mais tarde para Toledo com a romancista catalã por quem se crê apaixonado; por outro lado, a viagem da autora de novelas negras que visita Portugal com o marido, e que, alguns meses mais tarde, se liga perigosamente ao poeta que desconhece por completo, acabando por deambular, no final do romance, pelas ruas de Lisboa, em busca do amante desaparecido, antes de ser violentada pelo marido ciumento que a persegue e a obriga a regressar a Barcelona.
Regime onírico e heterotópico
Os fios que tecem O Mar de Madrid, que o narrador define como a “história abreviada de uma estranheza” (p.233), servem como experiências mediadoras para interrogar a vivência temporal das personagens e ilustrar uma espacialidade que oferece variados rostos. O mapeamento referencial, com a observação detalhada da geografia física e humana, acompanha a trajectória horizontal dos protagonistas entre a perifeira e o centro, através de um duplo movimento de ida e volta: itinerário da periferia até ao centro madrileno e regresso final à periferia (Lisboa/Barcelona), ao mesmo tempo que implica um percurso vertical, isto é, uma sondagem psicológica através da captação labiríntica dos seres e dos lugares inseridos no jogo da ficcionalização. Com efeito, o narrador desenha cuidadosamente uma cartografia dos afectos, baseando-se na impossível relação bipolar que, para além do sentimento de estranheza, deixa também transparecer a angústia e o sentimento de crise em que se afundam tanto o poeta português como a escritora espanhola. Enquanto o primeiro constata que é “um homem dividido entre dois mundos e duas cidades” (p.265), a segunda chega à conclusão de que só lhe resta beber pelo poeta e chorar pelos filhos (p.276), pois, como observa o lúcido narrador, pareciam “ambos tolhidos pela impossibilidade de um amor que não podia existir ou que não dava passagem de um lado para o outro da fronteira invisível que, ao mesmo tempo, os unia e separava.” (p.287).
A experiência madrilena é assim decisiva para cada um deles e abre-se para um jogo entre o real e o onírico que o narrador nos oferece ao longo de todo o capítulo quatro, por meio de uma magnífica transfiguração do real em que a cidade de Madrid, já descrita anteriormente a partir do sexto andar do hotel , isto é, vista de cima (tal como Lisboa fora admirada do alto da ponte pelo casal espanhol), se transforma numa cidade marítima que o poeta visita numa gôndola de aluguer, guiado por um curioso cigano “de olhos famintos, com a pele muito picada pelas bexigas” (p.90), cantador de fados e flamengos, “com as vozes todas de Espanha, fadário do seu próprio destino” (p.94), o qual revela uma imagem muito negativa dos turistas portugueses, definidos como “assustados, mansos, uns tímidos, uns desvalidos cordeiros pascais...” (p.99). Apesar da atmosfera de inquietação provocada pelo insólito gondoleiro, o poeta deixa-se conduzir na sua viagem imaginária pela “Gran Via acima, em direcção a Alcalá onde o mar logo se bifurca, abrindo-se em delta. Um dos braços segue para a Puerta del Sol; o outro vai até à Plaza de España...” (p.92).
A topografia marítima madrilena assim descrita, assimilada a uma atopia, isto é a um lugar que não existe, apoia-se num campo lexical que remete frequentemente para o domínio do sonho, da visão, da miragem e da ilusão. No termo do percurso com o inquietante cigano, Francisco Bravo Mamede sobe para o navio do grego André Ulisses Kédros e abandona por fim “o mar da Atocha”, avançando para o largo e vendo ao longe o cigano diminuir de volume. A referência paródica ao famoso romance O Navio Dentro da Cidade, do escritor greco-francês André Kédros, de origem romena, conhecido sobretudo pelas suas obras para a juventude, introduz na narrativa um jogo com a capacidade hermenêutica do leitor, ao mesmo tempo que desenha a primeira visão heterotópica do romance, condensada na imagem do navio que constitui, segundo Michel Foucault, a heterotopia por excelência.
Para o filósofo francês, se a categoria do tempo dominou durante todo o século XIX, em contrapartida a espacialidade impõe-se no século XX, em que as utopias, as atopias e as heterotopias constituem amplos modos de posicionamento para definir o homem em relação à sociedade. No prefácio de Les Mots et les choses, Foucault constata que enquanto as utopias consolam, remetendo para o desejo de um mundo melhor, as heterotopias desassossegam, visto que o espaço heterotópico corresponde ao lugar incómodo que se desenvolve no interior de uma cultura de forma contraposta e invertida. Numa conferência apresentada em 1967 no Cercle d’Etudes Architecturales de Paris, Foucault evocava ainda a possibilidade de criação de uma nova ciência, a “heterotopologia”, que se ocuparia dos “espaços absolutamente outros” inscritos na realidade.
A visão marítima de Madrid corresponde, no romance de João de Melo, a uma atopia, lugar que existe apenas no sonho/delírio do poeta apaixonado e que, uma vez associada à heterotopia da gôndola/navio, remete metonimicamente para a grande aventura de Quinhentos e para a grandeza passada dos dois países ibéricos, ligada à Expansão. Mas o” mar profético de Madrid” (p.96) constitui também uma metáfora que indicia o desejo de outra coisa, de uma vida diferente, talvez em eco intertextual ao “céu de Madrid”, título de um romance publicado em 2005 por Julio Llamazares, que conta a aventura de personagens igualmente mergulhadas em questões identitárias.
Contrariamente à viagem imaginária que, no plano literário, se faz para fora, a travessia dos heróis de O Mar de Madrid desenrola-se no interior da Península Ibérica, invertendo o sentido da empresa marítima quinhentista, mesmo se a ideia de posse, conotada com o sexual, se inscreve na aventura. Ao desenhar uma cartografia peninsular essencialmente marcada pela estranheza, João de Melo transmite-nos ainda, para além da figura do navio, uma série de lugares-outros, povoados pelo desassossego, convergindo numa série de visões heterotópicas que passam pela sugestiva interrogação identitária das personagens à procura de uma relação satisfatória com o Outro, mas também em busca de si mesmos. Assim, Francisco interroga-se diante do espelho, para “ver quem era na realidade” (p.75), descobrindo a sua dupla natureza relativa a espaços diferentes: modesto professor de inglês num liceu de Lisboa, e “ali (em Madrid) na superior condição de poeta, ombro a ombro com os melhores dos seus contemporâneos” (p.76). Noutra ocasião, “Dolors mira-se de relance ao espelho, depois olha-o de frente. O rosto convulso de choro. Os olhos pisados pelo abandono e pela humilhação. O princípio da idade à vista.” (p.171), num contraste interessante com a sua imagem de mulher gloriosa à chegada ao congresso madrileno. Ora o espelho que constitui, segundo Foucault, uma outra forma de heterotopia, define também um espaço duplo que respira no interstício das palavras-imagens e na espessura dos medos históricos em que se movem os protagonistas de O Mar de Madrid.
Para além do navio e do espelho, o romance de João de Melo trabalha ainda uma outra forma de heterotopia, condensada na sala da Universidade Complutense onde os congressistas fingem comunicar, apesar das dificuldades linguísticas. Tal situação acaba por ser denunciada com muita ironia pelo poeta português que constata que os arrogantes colegas espanhóis nada fazem para compreender aqueles que ousam falar na língua de Camões:
“Ninguém ouvia nem compreendia o que estava sendo dito na sala. Tudo rotundamente falso: as vozes que fluíam na sua oratória, as cabeças aprovativas a acenarem que sim lá no meio da assistência, o sorriso gordo e por vezes grandioso do presidente da mesa a dizer, baixinho e com toda a educação, que o orador esgotara o seu tempo de falar – e por fim as palmas sempre vibrantes, e os sorrisos circunflexos, quase cirúrgicos, e as vénias mais ou menos pronunciadas que se prodigalizavam, por vezes a grande distância, de um lado para o outro da imensa sala curva do Paraninfo.” (p.115)
O congresso enquanto heterotopia do poder apresenta-se assim como um espaço ritualizado onde se cruzam imagens duplas, distâncias, preconceitos, tensões e sobretudo muita hipocrisia. Um dos participantes no evento é o conhecido romancista português Gustavo Mendonça, caricatura do escritor institucional, que Francisco Bravo Mamede considerava como “iluminado pelo génio do existencialismo e pela humanidade da sua prosa (p.72), mas que à saída do hotel não hesita em afirmar a sua hostilidade pelos Castelhanos, definidos nos seguintes termos:
“Gente negreira, raça quezilenta e estuporada. Sempre abominei as políticas de Castela. É de não esquecer os males que por várias vezes, ao longo da nossa História, eles nos causaram: batalhas sangrentas, a invasão de 1580 e a dinastia dos Felipes em Portugal, a usurpação de Olivença, a água que agora estão roubando aos nossos belos e nobres rios, o muito peixe que vêm subtraindo aos nossos mares. (Nova pausa) – Espanhóis! Nunca em dias da minha vida gostei de Espanhóis.” (p.72)
Esta súmula de ressentimentos históricos contrasta de forma notável com a atitude gordurosa, cheia de vénias e algo subserviente que o romancista assume no momento em que pronuncia o seu discurso recheado de uma adjectivação ridícula (p.117), acumulando patetices e despropósitos e fazendo rir em coro a assembleia, sem se aperceber “da sua triste figura de cavaleiro solitário e menos ainda do cinismo risonho dos seus anfitriões” (p.119). Em contraponto a esta caricatura, o narrador apresenta-nos o professor Cuervo, que ensina português na Universidade e que depois de convidar o poeta para um recital junto dos seus alunos, se lança numa “diatribe apoteótica contra Portugal”:
“Fê-lo com método, inventariando políticos e empresários, jornalistas e diplomatas, médicos e polícias, passando a seguir à história das mentalidades para criticar o povo, o clero, os ricos, os trabalhadores e os sindicalistas. Atacou ainda os alunos e os professores, os homens do pensamento filosófico, da ciência e da religião, e por fim os literatos, diagnosticando em tudo e em todos o atraso, o desmazelo sem nome, a sujidade, o caos português. Havia muitos anos, fora a Portugal conhecê-los e estudá-los, a fim de poder vir a incluí-los nos programas académicos e a ensiná-los em Espanha. Uns balofos, uns empertigados!” (p.238)
Desta forma, explorando as formas simbólicas que se instalam entre culturas estranhas, apesar de muito próximas, o narrador acumula as razões, inscritas na política e na história das mentalidades, que explicam a indefectível distância ibérica. Através das figuras heterotópicas do navio, do espelho e do poder académico, mas também da heterotopia desviante que poderia ter sido o adultério, João de Melo desenha personagens que, ao longo da narrativa, mergulham numa situação conflituosa para a qual não parece haver outra saída senão o riso.
O olhar oblíquo do narrador
Em O Mar de Madrid, o trabalho de João de Melo com a linguagem, que se revela já na escolha do título, investe-se ainda na prática paródica, na construção das personagens e sobretudo na figura de um narrador que explora frequentemente o cómico das situações e dos preconceitos, ao mesmo tempo que joga com as figuras principais da retórica clássica que são a metonímia, a metáfora e a ironia. Com efeito, a relação amorosa entre Francisco e Dolors alimenta várias peripécias, narradas ao longo do texto, com grande sentido de humor.
Ao mesmo tempo cúmplice e irónico, o narrador faz alternar quase sempre os pontos de vista dos dois protagonistas, descrevendo minuciosamente os seus sobressaltos e as suas frustrações, conferindo-lhes densidade e dramatismo, indagando os seus desejos mais secretos, sem se esquecer contudo de nos fazer rir com as suas falhas, contradições e incertezas. Cada um deles sonha com um adultério salvador, embora de maneiras diferentes: para Dolors Claret, a aventura com o poeta português seria uma forma de se vingar das infidelidades de Victor, enquanto para Francisco Bravo Mamede a aventura espanhola, para além de lhe fazer esquecer o tédio de Branca, poderia constituir uma gratificação narcísica e até “patriótica”:
“Agradava-lhe que lhe estivesse acontecendo o “milagre” da infidelidade conjugal com uma mulher tão bela, ainda por cima uma catalã espanhola, e que essa feliz transgressão não lhe sugerisse nenhuma ideia de pecado, e muito menos qualquer sombra de remorso. Pelo contrário, se viesse a cometer adultério com uma espanhola, isso seria não só um orgulho, mas até uma acção patriótica; acto de conquista territorial para o seu país, objecto heróico, troféu de caça para a sua literatura.” (p.145)
Para além do desejo misógino que nunca chega a concretizar-se, o discurso do poeta português veicula ainda uma ideia convencional sobre a figura feminina, assimilada ao demoníaco: “Não há dúvida, a mulher tem um demónio no olhar” (p.150), constata ele, ridiculamente transformado em vítima de uma sedução incontrolável, partilhado entre a vontade de fugir e a urgência de defender o orgulho nacional, pois, como observa interrogativa e exclamativamente o narrador:
“E há-de um poeta português fugir assim, o cobardolas, de uma escritora espanhola de novelas negras, com medo de não ser erecto na ocasião apropriada, ou de não estar à altura dela? Digam-lhe dessas! Que diabo, ele era um lusitano, um descendente do grande Viriato, e também um animal da conquista ibérica, um vencedor histórico face à Espanha de Dolors. Nunca um português deve deixar de provar seja o que for em Espanha, sobretudo contra ela, ainda que só na intimidade de uma das suas mulheres: além de se comportar como um bravo e um herói, deve ter consciência de ser o único cidadão de um território independente de Espanha, o único republicano, o sal histórico do grande mar lusíada de Camões e, sem dúvida, o primeiro de todos os homens ibéricos! Tudo o mais, na Península, não passa de um rebotalho, de um rebanho dentro do seu aprisco, coisa sem préstimo nem alma de maior!” (p.157)
Pela acumulação de juízos de valor, associados a uma adjectivação exagerada e a uma pontuação eminentemente subjectiva, o discurso do narrador provoca um efeito cómico que atinge o seu ponto mais alto no momento em que a virilidade do poeta se cobre novamente de ridículo quando, num luxuoso restaurante de Toledo, descobre subitamente que está metido num “grande sarilho” (p.181), pois só tem 120 euros na carteira. Apenas a bebedeira o salva da humilhação que consiste em aceitar nessa noite que seja a companheira a pagar a conta.
Como já vimos, a intriga romanesca de O Mar de Madrid apresenta uma estrutura tripartida que se inicia com a descoberta do espaço ibérico, culmina no encontro/desencontro dos amantes entre Madrid/Toledo/Lisboa e termina com o regresso de cada um deles ao inferno conjugal. Para além de se manifestar no prólogo do romance, o narrador de terceira pessoa move-se ao longo de toda a narrativa, oscilando entre a aparente neutralidade e a clara implicação, e dialoga intertextualmente com outras obras, brincando frequentemente com o leitor através das referências intertextuais implícitas já mencionadas e também explícitas (António Machado, Eduardo Lourenço, Gomez de la Serna...). É ainda ele que selecciona os acontecimentos que alimentam a intriga, dramatiza a estranheza e a alienação, mas acima de tudo mistura o dramático e o cómico para nos dar a ler uma situação centrada no tradicional triângulo amoroso que acaba mal.
A obliquidade do narrador, que se manifesta no amargo do sarcasmo, na ferocidade da caricatura e no riso do cómico, rompe assim a linearidade da intriga, fazendo alternar, através de um movimento bem cadenciado, a acção e a reflexão, o saber e a ignorância. Na verdade, se umas vezes se intromete na intimidade das personagens, vasculhando o que lhes vai na alma e detalhando com argúcia o timbre dos seus conflitos psicológicos, outras vezes confessa os seus limites, abandonando a sua autoridade de narrador omnisciente.
Ao descrever os comportamentos caricaturais dos congressistas madrilenos, o narrador adopta uma evidente postura de superioridade, acompanhando o ritmo ascendente que começa com o discurso de Gustavo Mendonça e a situação patética que este cria perante a assembleia (“Trocou de óculos, pediu três vezes desculpa à mesa e aos presentes...”, p.117), até atingir o apogeu que coincide com o pequeno momento de glória em que o poeta português, indignado perante a humilhação imposta ao seu conterrâneo romancista que não dá por nada, profere um discurso “patriótico” que lhe merece a atenção de Dolors, com quem acaba por se embebedar:
“Falou da vergonha que sentia por ser um poeta da Península Ibérica. Vivera 52 anos, estava no limiar do seu entendimento da condição portuguesa; mas precisava de viver pelo menos mais um século para compreender a Espanha, a grande, a terrível e sobremodo histórica Espanha dos seus pais e avós, e um outro século para perceber o preconceito que afastava Portugal de Castela, Castela da Andaluzia, a Andaluzia de Aragão e Navarra, e estes de Leão e da Catalunha, e estes, ainda, do País Basco e da Galiza, e a Galiza de Portugal... ” (p.120)
O excesso da indignação do poeta, com algo de quixotesco, ilustra afinal a ideia central do romance, pois como sublinha o narrador sentencioso, em eco à jangada saramaguiana: “A Ibéria não passava de uma ilha, porventura inaudita ou meramente imaginária” (p.121)
A postura de segurança e superioridade da figura narrativa manifesta-se ainda quando o narrador se intromete na narrativa com alguma familiaridade, para nos dar a ver, no final do romance, a última imagem do poeta português cuja trajectória (tal como a de Dolors) desenha uma perfeita circularidade : “Sigamos então nós outros, queridos leitores, os passos do poeta Francisco Bravo Mamede até à sua casa.” (p.291). Em contrapartida, noutros momentos da narrativa, o narrador confessa os seus limites ora com jovialidade, quando se revela incapaz de explicar o que se passa (p.90), ora com curiosidade, projectando o leitor no futuro:
“Pergunto eu, narrador, como passará ela para o lado de lá de Francisco Bravo Mamede? E ele, como entrará para o lado de dentro, sem tropeçar no cordão explosivo, nesse fio invisível que o separa de Dolors Claret? Outra vez a estranheza” (p.168)
Outras vezes, define-se como um “neutro narrador” (p.218), mesmo se não hesita em julgar severamente as suas personagens, dando por exemplo a sua opinião sobre a atitude “desmedida” de Dolors que deambula por Madrid à procura do poeta, citando Gomez de la Serna e pensando que “não existindo mar em Madrid, não há em toda a Espanha uma cidade tão porosa ...” (p.222). Noutras ocasiões, o narrador distancia-se do universo diegético e afirma com muita graça a sua modéstia, como no final do romance, em que estabelece um diálogo com o leitor, nos seguintes termos:
“Mas não me perguntem a mim, modesto narrador, como foi que a descobriu tão depressa num hotelzinho sorna e recatado das Avenidas Novas, que isso eu não sei (ou não posso nem não devo revelá-lo, pois não sou nenhum delator). Nem por que motivo Victor Alfonso lhe bateu tanto, tão furiosamente, até lhe doerem as mãos, a ponto de converter o rosto dela numa máscara gorda, pisada e lastimável” (p.286).
A tessitura irónica da narrativa espelha afinal os três elementos básicos da condição do narrador - a superioridade, a liberdade e o divertimento – ao mesmo tempo que propõe um convite à tolerância pela desconstrução das culturas fechadas sobre si mesmas, essencialistas, presas àquilo que Glissant designa como uma “identidade-raiz”, por oposição a uma “identidade-rizoma”.
Na perspectiva do pensador antilhês, a questão identitária é construída a partir da análise dos pressupostos metafísicos que fundamentam todo o sistema da racionalidade ocidental estruturada em oposições binárias. Na sua opinião, é necessário “desconstruir” (Derrida) tal sistema, de forma a subvertê-lo para entrar no processo dinâmico da Relação onde há lugar para a ambiguidade salutar e para a diversidade. Inspirando-se no conceito inovador de rizoma, criado por Deleuze e Guattari, Edouard Glissant aplica-o à identidade cultural para mostrar que o pensamento hegemónico do Ocidente se fundamenta na ideia de uma identidade fixa que, tal como uma “raiz autoritária”, mata tudo à sua volta, propondo-nos antes o conceito de “identidade-rizoma” que aceita as diferenças e a possibilidade de um relacionamento harmónico com o Outro, despido de preconceitos míticos ou ideológicos, criando “linhas de fuga” ou de “desterritorialização”, sempre remetidas umas às outras, que permitem ultrapassar os limites das essencialidades e conceber a Relação a partir de um não-sistema aberto à complexidade do diverso e à fragilidade de todas as construções identitárias.
Parece-nos ser esta a dimensão fundamental sugerida pelo romance de João de Melo. Ao equacionar diferentes tipos de estranheza, o escritor elabora uma verdadeira arqueologia, isto é, uma “descrição do pensar” de uma época, mas também uma indagação sobre os problemas da identidade cultural ibérica. Nele encontramos uma reflexão em todos os sentidos da palavra, ou seja, reflexo de uma crise amorosa e do relacionamento complexo entre Portugueses e Espanhóis, eco intertextual que valoriza parodicamente uma série de textos do passado, expressão de um olhar oblíquo e perspicaz, mas também capacidade de desconstruir “culturas atávicas”, de forma a pensar firmemente a Relação cada vez mais necessária que, nas palavras de Edouard Glissant, explode à maneira de uma trama inscrita na “totalidade-mundo”.
Maria Graciete Besse
Universidade de Paris-Sorbonne/Paris IV
Fonte:
Paula Alexandra de Sousa Cotter Cabral
(2006) João de Melo, O Mar de Madrid. Lisboa, Publicações Dom Quixote
Paula Alexandra de Sousa Cotter Cabral – Escola Secundária Vitorino Nemésio. Rua Comendador Francisco José Barcelos. 9760-434 Praia da Vitória
Sob uma visão lúcida e reflexiva, neste novo romance de João de Melo, a prosa deixa ressoar o quotidiano, os dilemas do ser humano, as angústias e as emoções, sem nunca esquecer o lado poético da escrita.
Os leitores são conduzidos por um narrador irónico, à maneira garrettiana, numa viagem por terras peninsulares. Este narrador dá a conhecer os dois lados da «fronteira»: o «senhor poeta» português, Francisco Bravo Mamede e Dolors Claret, uma escritora catalã de novelas policiais. Percorrem-se os passos geográficos de Lisboa, Madrid e Toledo, em paralelo com os passos íntimos de dois casais em rota de colisão.
Em quinze capítulos, com introdução comentada, é aberto caminho para a apresentação das personagens e, simultaneamente, prepara-se o leitor para o relato que se vai seguir. O tom, muitas vezes coloquial, do narrador na relação dialógica com o “leitor”, revela os comentários de um observador acutilante, contrastando com o discurso poético elaborado em torno do vate lusitano em Madrid. A atitude narrativa inicial acaba por marcar inequivocamente o pendor crítico e irónico (quase sarcástico) deste cicerone ao longo da história.
É de contrastes e, também, de «estranheza» que vive afinal este romance. A estranheza geográfica fica vincada no discurso e no relato das experiências vividas pelo protagonista numa terra ibérica que seria supostamente una, mas que se assume desconhecida, como vizinhos em edifícios de uma grande metrópole.
A estranheza amorosa que ressalta do encontro literário em Madrid, núcleo de toda a trama, reúne Dolors Claret e Francisco Bravo Mamede e parece fomentar a união entre os opostos: espanhóis e portugueses, a narrativa e a poesia, a força impulsionadora do desejo amoroso e a cobardia de o enfrentar. Neste aspecto, pormenores aparentemente insignificantes exprimem valores da escrita deste texto e do perfil das personagens. As atitudes de Francisco Mamede, por exemplo, revelam-se contrárias à bravura implícita no seu nome.
A efabulação do protagonista sobre uma vida conjugal «outra», em oposição às vidas concretas, impulsiona as diferentes tentativas de concretização amorosa, os avanços e recuos, a coragem para assumir uma nova dimensão sentimental. Nesta construção imaginária de uma nova existência, surge a descrição de um mar especial, O Mar de Madrid.
Este romance é, por si só, um mar em metáfora. Um mar interior e imaginário construído dentro da própria ficção para estimular o leitor a aceitar essa existência: «acredite ou não […], há em Madrid um mar, que o visitou o poeta numa gôndola de aluguer, indo depois parar à Atocha, onde ancoravam os navios construídos na cidade. E num deles se embarca» (p. 87).
O mar, os navios, a visão marítima da cidade, na qual as esquinas se evidenciam como as quilhas dos barcos, constroem-se, por isso, poeticamente num discurso que coloca nas palavras a ânsia desse mar, um indesejado «mar ausente», tal como afirmou João de Melo numa entrevista dada ao Jornal de Letras (1/03/2006).
Para Madrid confluem os escritores convidados para um encontro literário. No entanto, é também desse centro citadino que se expandem os horizontes amorosos e éticos do «senhor poeta», um ser regido por normas rotineiras que condicionam grande parte dos seus actos literários e matrimoniais. A sensação de liberdade, em terras madrilenas, permite-lhe ceder ao ousado convite de Dolors para seguir viagem até Toledo. Impulsionado pelo espírito de D. Quixote, o andarilho lisboeta, embora comedido, vê-se a avançar para além do itinerário pré-definido pela consciência. Irá contra as suas linhas orientadoras. Viverá, juntamente com Dolors, a errância citadina como fuga à monotonia, ao «terror absoluto das suas vidas passadas à distância de dois países» (p.169).
João de Melo consegue, sem dúvida, através desta história, realçar a (in)comunicabilidade perturbadora entre dois países inexplicavelmente estranhos. Malgrado partilharem uma existência comum, estão equidistantes no desconhecimento e no desencontro.
Somos atravessados, ao longo de cerca de trezentas páginas, por um misto de efeito surpresa e de desejo de antecipação, no acompanhamento de uma história que nos vai criando expectativas quanto ao desenrolar dos acontecimentos.
A um ano de distância do tempo ficcional do romance, marcado pelo narrador como o final da história («Madrid, 28 de Agosto de 2005 – domingo»), convida-se à leitura desta obra que reinventa sobremaneira os (des)encontros humanos e ibéricos na corrente de um mar onírico e ausente como é o de Madrid.
Praia da Vitória, 28 de Agosto de 2006