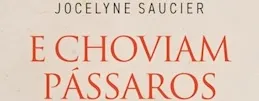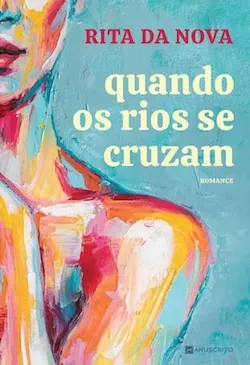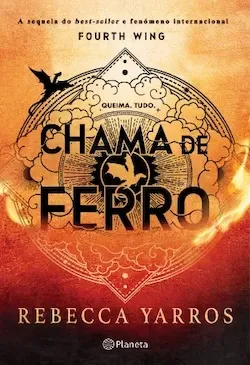Raízes - Patrícia Reis

Vocação para a felicidade
2012-06-05 00:00:00Vocação para a felicidade
Tudo começou com essa ideia de que estava deprimida. E deprimida era estar horas em frente à televisão com um pacote de gelado de formato familiar. A única coisa familiar na sua vida? O pacote de gelado. Triste, mas verdadeiro. Quase de uma banalidade aflitiva, ela que não apreciava clichés.
O gato escapou-se pela janela e dizem que o viram no passeio, estatelado, ainda a arfar. A porteira explicou tudo em detalhe e aplicando diminutivos irritantes. Era o meio da tarde; o senhor Jorge, do quiosque da rua de cima, fora beber um café e a porteira até tinha perguntado quem é que ficava a tomar conta do lugarejo. O senhor Jorge, com os dentes a desfazer-se na boca enorme, respondera
Deus, Dona Arminda, Deus olha por mim e pelo meu quiosque.
Ela, Dona Arminda, a porteira, achou uma ousadia este abandono dos jornais e das revistas, especialmente por causa das ofertas, malas e pulseiras, cd e cofrets de maquilhagem, relógios e meias de rede. E estava nesta interrogação quando o gato apareceu do céu, caiu, voou, materializou-se do nada.
Dona Arminda ficou hesitante à porta do prédio, o gato no chão. Depois decidiu ir buscar as chaves para que a porta não se fechasse e ela ficasse prisioneira na rua, desnuda das suas coisas, órfã da casa. Em boa altura decidiu que ia buscar as chaves já que o telefone estava a tocar e era a prima Nelinha, lá na terra, a dizer que o padre estava igualmente a caminho do céu desde essa madrugada e que agora era uma desgraça porque não havia ninguém para dizer a missa e fazer o funeral. Dona Arminda ouviu com atenção os detalhes mais requintados e maldosos da morte do padre que gostava - ainda se recordava com exactidão extrema - de apalpar qualquer centímetro das catecúmenas ao seu cuidado. Sussurrava
Anda cá, não fujas.
Quando se lembrou do gato ainda sentia as mãos do padre em cima dela. A sobreposição de imagens confundiu a porteira. Despachou a prima, prometendo ligar mais tarde, e correu para a rua com as chaves a balançar nos bolsos da bata florida. O gato tinha desaparecido. O senhor Jorge ainda estava a beber o café que, afinal, era um copo de aguardente sem cor, como a água.
A dona do gato, esquecendo-se por momentos da depressão onde embarcara, ouviu o relato com ar sofrido, olhos postos no chão e levou a encenação do desgosto ao ponto de arriscar dois ou três suspiros sentidos. D. Arminda explicou-lhe tudo com rigor assim que a viu descer do autocarro naquele esforço que lhe era habitual e que lembrava, aos demais, algumas crianças desajeitadas. A porteira gesticulou com a mão de forma violenta, a reforçar a necessidade de diálogo com a dona do gato morto, uma mulher jovem, cabelo pintado em casa, unhas de gel, sempre sozinha, navegando em pensamentos negativos.
Ó menina, que notícias tenho eu para si… a menina terá de me perdoar, mas não consegui fazer nadinha. Nadinha de nadinha. Ainda por cima a minha prima ligou a dizer que o maldito padre lá da minha aldeia bateu as botinhas. Olhe, tem sido uma tardinha sem interrupções, sem vírgulas, como diz aquele senhor poeta que costuma ir à televisão.
Aproveitando a deixa de respiração de Dona Arminda, Helena Rosa encostou-se à porta do elevador, exercitou os tais suspiros e sentiu-se cansada. Imaginou que o gelado aguentaria um pouco mais no saco do supermercado. Era um pacote consistente, hermético, duplo, bem fechado. Deveria aguentar. Dona Arminda alongou-se e o senhor Jorge acabou por intervir, já tocado, falando do gato e das vidas dos felinos no Antigo Egipto. Fê-lo com propriedade e sentido de pesar. Helena Rosa deixou-o pontificar, grata por poder ficar calada, sentindo o frio do saco com o gelado contra a perna curta.
Quando chegou a casa, bebeu o gelado já líquido enquanto observava a rua onde o gato falecera. Teria sido suicídio? Um gato possuiria esses pensamentos? Esses instintos? Helena Rosa não era entusiasta do felino. Seria, porventura, uma paixão ao contrário. O gato gostava de a mirar. Fixo nela, olhos em amêndoa que metiam medo, sempre a vê-la. Por vezes, enxotava-o, cansada de ser admirada, incapaz de o entender. Ele dava um pulo e afastava-se com aquele som de quatro patas a bater no soalho antigo. Pouco depois voltava, mantendo a distância, encarando-a, sempre, sentado com as patas da frente cruzadas. Era um gato com personalidade. Com uma alma velha. Teria, decerto, um propósito, uma missão. Helena Rosa gostava de pensar que sim, contudo não nutria pelo animal qualquer espécie de afecto. Suportava-o. Coleccionando rolos de papel aderente que lhe permitiam eliminar os pêlos nas almofadas, colchas, camisolas.
No dia seguinte, viu numa revista um médico a discorrer sobre a vida e a morte. Exibia ao colo um gato persa, arrogante, e o livro que escrevera pousado numa mesa de mármore demasiado limpa. Gostou do ar do médico e decidiu marcar uma consulta e dizer, depois, que a morte do gato a obrigara a um processo de reavaliação de todo o seu eu. Assim. Com esta elegância.
A consulta foi marcada para quatro meses mais tarde.
Da primeira vez teve o cuidado de ir ao cabeleireiro, arranjou as mãos, pinto-as de um vermelho escuro como agora se vê nas mãos das locutoras da televisão, vestiu um fato de saia-casaco, as pulseiras de ouro e o fio com o pendente em forma de coração. Considerou, na imagem no espelho, que estava com a dignidade necessária para quem vai abrir o coração a um especialista.
O médico, porém, desiludiu-a de imediato: pareceu-lhe um sapo mole. As mãos muito gordas, as orelhas enormes, a voz arrastada. Mesmo que alguém o beijasse não haveria forma de o transformar em príncipe. Era um sapo, um sapo mole. Fez algumas perguntas
Nome completo, idade, profissão...
E por fim
O que é que a traz cá?
Ela pensou em dizer-lhe que o vira na entrevista daquela revista semanal, no dia em que a capa mostrava a princesa de Espanha e a polémica sobre a sucessão do trono. Ponderou em dizer que sabia da publicação do livro: "Diálogos internos". Mas não se atreveu porque não quis que o médico pensasse que ela lera o livro. Evitava, aliás, os livros; para não se perder no português, para não se irritar com as palavras que saltam umas atrás das outras. Não lhe restava qualquer solução e, por isso, atacou com a história do gato, da dona Arminda, do padre e do senhor Jorge que deixa o quiosque à mercê de quem o quiser assaltar. O médico ouviu com paciência, sem desviar o olhar uma única vez. Não tomou notas, como quem não está a dar a devida importância à morte do gato e ela, cheia de coragem, perguntou
O senhor doutor não toma notas?
Não. Nunca.
Aquilo baralhou-a e ficou sem saber se havia de continuar ou não. Se ele não tirava notas da conversa como é que se ia lembrar dela? Talvez, mais tarde, finda a consulta, lhe desse um nome que a distinguiria dos outros pacientes, um nome só dela.
A mulher do gato
Como num policial. Ele era um detective, ela era a mulher que, num gesto voluntário, vinha testemunhar um crime hediondo envolvendo a máfia russa, a máfia chinesa ou outra qualquer máfia. Menos a italiana, porque essa a essa já lhe falta carisma e segredos. No fim da sessão, o médico, levantando-se do cadeirão de orelhas, quis saber
Já se desfez das coisas do gato?
Do quê?
Das coisas do gato? O caixote, a comida, a areia…
Não, ainda não.
Ah.
Aquele trejeito
Ah.
fê-la pensar. Se ele estava com pena dela, se julgaria que o despojamento seria melhor para aliviar a depressão, se também ele, o médico sapo, teria perdido o gato dele, o tal persa da fotografia. Durante uma semana, em intervalos consideráveis, vinha-lhe aquele
Ah.
No fim da primeira consulta, não estava realmente convencida da pertinência da mesma, do gasto extra - noventa euros por cinquenta minutos de nada - porém remarcou outra consulta com a senhora da recepção e guardou o recibo para colocar na pasta do IRS.
Helena Rosa ajeitou o cabelo, mirando-se com dificuldade no espelho do elevador. Regressaria a casa a pé, decisão tomada no momento. Olhando as ruas, evitando os dejectos na calçada, seguiu com alguma segurança apesar dos saltos. Cansou-se e acabou por encontrar uma paragem de autocarro na direcção apropriada. Esperava. Tentava não pensar em nada. Contava carros. Fazia apostas.
Agora vai passar um carro azul eléctrico ou amarelo.
Suspirava com algum alento quando o automóvel exibia a cor certa. Era um sinal. Tudo era um sinal. Um caminho. Essa parte, Helena Rosa sabia de cor. Durante um ano, seguira a astrologia e as constelações familiares, os sinais e os significados, os destinos maduros e outras coisas desse calibre. Fez várias limpezas em especialistas – geralmente a sessenta euros. Ficava de olhos fechados, a música, sempre a mesma, um mantra indiano ao fundo, e o curador, ou terapeuta, de olhos cerrados, colocava as mãos na sua cabeça, na lateral do crânio, a deitar cá para fora as energias más.
Ai, tanto peso que para aqui vai. Aprendemos muito nas vidas passadas.
Helena Rosa assistiu a workshops e seminários ao fim de semana, leu algumas coisas, poucas, admite, mas, sempre entusiasta do conhecimento, deixou-se andar a ser limpa por este ou aquele. Preferia homens, claro. Fechava os olhos e sentia-lhes o odor do suor misturado com perfume. Fez a carta astral e viu-se na penumbra de uma casa com múltiplos ícones africanos, pronta a ser conduzida para a recuperação dos chacras. O da sexualidade, o da comunicação, o da cabeça. Durante um ano andou nisto. Saía do escritório de contabilidade, onde ainda fazia a revisão de contas, e dedicava-se aos Astros. Ficava um pouco baralhada com algumas coisas, porém cedo percebeu que as interrogações não ajudavam. Cultivou uma imagem de ausência misteriosa aliada a uma dor putativa que, a qualquer momento, a diferenciaria das outras pessoas. Não tinha necessidade de diálogo, o conforto de estar num grupo já lhe dava a importância de vida que queria. O seu silêncio era interpretado como sendo sábio. Helena Rosa, demasiado consciente das suas limitações, deixou-se estar em seminários de fim-de-semana, de olhos postos no interlocutor, acenando com a cabeça, sem intervir. Estava cristalizada nessa figura que não era.
Ela, Helena Rosa de Alves Coelho, trinta e sete anos, era apenas mais um erro da cidade. Via-se assim. Aos catorze chegara a Lisboa para ser qualquer coisa. Aos dezoito casou, aos vinte e dois ficou viúva. Na verdade, a história era quase banal, mas era a dela e desde os vinte e dois que tentava ser, durante um ano, qualquer outra, uma que não sendo ela, era um pedaço de um futuro que tinha imaginado há muito. Havia, claro, uma tremenda tristeza nisso. Helena Rosa não considerava a tristeza. A dor maior era a solidão de se saber igual aos outros: nem mais, nem menos. Tudo lhe morria: a mãe e o pai, muito cedo, o marido e agora até o gato vadio, esse que desaparecerá sem lhe proporcionar uma lágrima de despedida.
Eu gostava mesmo de ter a vocação da felicidade.
Pareceu-lhe incrível que estivesse outra vez em plena consulta a citar uma entrevista que acabara de ler enquanto aguardava na sala de espera. Mais noventa euros de banalidades. Helena Rosa memorizava tudo o que lia nas revistas e depois debitava num arranjo floral de intenções e de trejeitos, mais ou menos elegantes. Deixava a cabeça ligeiramente inclinada para a esquerda como quem pede desculpa. Não era uma pose submissa, era apenas uma maneira de estar, de se fazer interessante. Tudo aquilo era uma forma de ser mais, mais qualquer coisa indefinida que ela não sabia classificar, porém diferenciadora: a consulta, o poder dizer que tinha um psicanalista, aquela hora roubada ao dia para se ouvir falar. Era isso. Podia ser isso: ouvir-se falar. Talvez haja uma atitude terapêutica nessa enorme satisfação de ouvir alguém, mesmo alguém que debita uma vida inventada e copiada das revistas cor-de-rosa. Qual era o propósito do médico sapo em estar ali sentado a ouvi-la? Que resultados seriam de esperar? Helena Rosa interrogava-se sobre o papel do médico. Lembrou-se dos cremes anti-celulíticos e esboçou um sorriso. Continuou a falar naquele tom trágico, pensando que o objectivo da psicanálise talvez consistisse em eliminar 89% de casca de laranja, obtendo 67% de firmeza e elasticidade. Conseguia imaginar um anúncio: o consultório austero, quase sem mobília, um homem com óculos e, em letras vermelhas, "consulte-se e perca esse peso a mais. A psicanálise".
Helena Rosa sempre soube que não chegaria a contar nada de concreto. O episódio do gato, sendo verdadeiro, não a afectara. O gato era do marido e, como tal, era apenas um resto. Nada mais. Helena Rosa conseguia essa frieza. Não por maldade, apenas por desprendimento. Se contasse a verdade ao psicanalista, estaria ali presa mais de um ano e ela já tinha decidido que, logo a seguir, se inscreveria em aulas de pintura ou no coro da paróquia. Continuaria o seu trabalho no novo escritório de contabilidade, o ordenado certo e tudo previsto num programa e numa ordem que seriam infalíveis até ao dia em que completasse quarenta anos. Então, estava preparada, faria de gato. Saltaria da janela e terminaria a sua vida por não valer a pena tanto esforço.
É que Helena Rosa esforçava-se. Desde miúda. Um esforço físico e intelectual que a obrigava a perceber que não era uma mulher como outra. Havia algo nela que escapava aos restantes. Seria a sua pequenez, sim, ou a amálgama de insultos que acumulara na vida. Desde cedo. Nem o amor da sua mãe a podia proteger e, além disso, nunca se convenceu que existisse ali amor. Quando chegou a Lisboa, aos catorze anos, veio para ser uma atracção. Em plena década de oitenta do século XX, poucos anos depois do 25 de Abril e revoltas com cravos. Helena Rosa não sabia nada de liberdade ou democracia, do estado em que o país estava ou deixava de estar. Ouviu dizer que o comunismo era uma ficção e acreditou porque o homem que lho disse parecia perceber dessas coisas.
Quando chegou perto da tenda de circo, sabia que a sua via mudaria. Não deixaria de estragar as mãos no tanque, de esfregar e lavar, e, apesar disso, seria um personagem diferente a cada fim de semana, sempre que a tenda abria para o público entrar e aplaudir. Um público embasbacado com os cavalos e elefantes, cães amestrados e palhaços, malabaristas e a anã, a pequena anã com o chapéu roxo. Dos catorze aos dezoito cumpriu o seu papel.
O dono do circo, de origem italiana, como é suposto, descobriu que ela possuía boa cabeça para números e, por isso, rogava-lhe que fizesse e refizesse as contas, as receitas, os gastos. Ela controlava ordenados e stocks. Sentia-se válida. Apesar de pequena. Tinha o poder do dinheiro. Se era preciso adquirir material novo, era com ela que falavam. E ela fazia contas antes de tomar uma decisão. Depois dava o seu parecer e desaparecia. Era a deixa para o dono do circo decidir soberanamente.
O treinador de cães, homem dos seus cinquenta anos, fez-lhe a corte com tempo. Uma rosa todos os dias, uma admiração e uma graça. Foi uma corte longa que deu em casamento e, logo depois, em desgosto quando o treinador a deixou viúva sem um filho. Morreu no meio de um ensaio, numa terra do interior, o frio queimava a pele. Helena Rosa não chorou. Cortava os bilhetes de entrada pelo canhoto e sorria às pessoas
Tenha um bom espectáculo, hoje os cães estão de folga.
Desfez-se dos animais, os companheiros de viagem anelantes por confortar e tomar conta. Ficou com o gato porque ele se escondeu no seu saco, teimoso, a querer mesmo ficar com ela.
O dono do circo acercou-se e sentenciou
Helena Rosa, tens idade, és maior. A tua vida agora mudou. Vais fazer um curso de contabilidade. És boa nos números, ninguém se vai importar que sejas anã.
Ela acreditou naquela ideia. Arrumou a sua roulotte, deixou-a para a família de sete malabaristas; acenou aos cães que saltavam para dentro de círculos coloridos, sempre a treinar, a ver se não mostravam os dentes.
Inscreveu-se pela internet e apareceu no primeiro dia com o semblante habitual, uma mulher pequena que sabia ao que ia. No curso distinguiu-se pela rapidez de raciocínio, pela enorme eficácia com que abarcava números e equações. Os colegas passaram do olhar de soslaio à admiração: ela imaginava soluções criativas e eficazes para os problemas criados. O professor, homossexual assumido, aplaudia e sorria com satisfação. O orgulho que mostrava por Helena Rosa era o orgulho dos minoritários. Só isso era suficiente.
Com o diploma na mão, Helena Rosa tomou a única decisão solitária da sua existência. Procurou um banco e, invocando a sua condição de anã, conseguiu benefícios e juros mais baixos.
Sabe que os anões têm um tempo de vida mais limitado?
Helena Rosa não gostava de invocar a sua condição mas estava apostada em ter a sua casa, uma casa com paredes e casa de banho, esquecer a roulotte e os panos sujos da tenda que fazia o grande circo e onde ela tantas vezes se enrolou sem graça. Procurou emprego com o auxílio espontâneo do professor de contabilidade. E, depois de tudo seguro, com um plano concreto, fez um desenho dos anos e encheu cada parcela com uma actividade. Todos os anos, faria uma coisa diferente.
Este ano era o ano da psicanálise. Helena Rosa estava convencida de que venceria esta prova, como vencera as outras. Não obstante, algo mudou na terceira consulta quando o medico lhe confidenciou
Sabe. Sempre tive um fascínio pelo nanismo. Deve ser um tormento e, ao mesmo tempo, uma forma única de ver as coisas. Como é que os seus pais reagiram quando nasceu? Eles também eram...
Helena Rosa não estava preparada para a pergunta. Ficou a mirar as mãos quietas no seu regaço e ponderou se a verdade serviria ou destruiria apenas o seu plano.
Os meus pais tiveram seis filhos, só eu é que fiquei desta altura. O Padre benzeu-se várias vezes e recusou-se a dar-me o sacramento do baptismo. Foi pena.
A Helena Rosa é uma mulher de fé?
Não, mas tenho pena, o que quer?. Gosto do ritual dos baptizados, as crianças ali indefesas perante Deus, sem saberem nada. Eu não tive esse momento. Sinto que mo roubaram. Agora já não tem importância.
Já não? Porquê?
Porque sofro de insuficiência cardíaca e renal. Tenho pouco tempo de vida.
Isso é uma tirada das revistas com que me tem presenteado?
Helena Rosa olhou-o com surpresa, o médico sapo tão sabichão. O tom de voz não denotava qualquer crítica, todavia não planeava ser descoberta com facilidade e susteve a respiração. Sentada na cadeira, mesmo à beira da cadeira, os pés podiam dançar no ar. Teria de saltar para sair do embaraço. O médico perguntou
Tem medo da morte?
Não, tenho medo das horas mortas, do vazio.
Marcamos para a semana?
Sim.
Na véspera da quarta consulta, Helena Rosa Alves Coelho estava a terminar um relatório contabilístico de uma empresa de retalho especializado. Fazia-o no gabinete, as pernas bambas na cadeira, a mordiscar o lápis amarelo e preto, com ponta de borracha. Olhando para a janela pareceu-lhe ver o gato e ouviu-se dizer alto
Francisco?
A seguir uma dor tomou conta do seu braço esquerdo, uma sensação de dormência e uma enorme vontade de pousar a cabeça. Helena Rosa morreu devagarinho, sem se aperceber que o corpo a traía antes de tempo.
Encontraram-na horas mais tarde. O colega que lhe pegou para a pousar, gentil, no sofá da sala de reuniões, comentou que era muito leve. Não o fez de forma jocosa, mas surpreendida.
Alguém disse que havia um gato à janela. Quando se foi ver era só chuva.
Maio 2009
Mais raízesVoltar