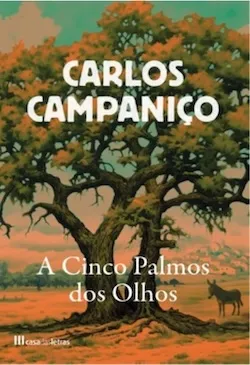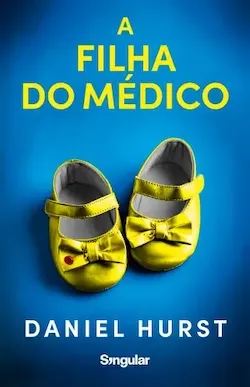Folheando com... Henrique Monteiro

Henrique Monteiro
2010-12-29Nasceu em 1956, é jornalista e escritor, trabalha no semanário Expresso há mais de vinte anos, foi sucessivamente editor da revista e da secção de Sociedade, membro da Direcção, sub-director, sendo desde há quatro anos Director. É autor do romance Papel Pardo, editado em 2002 e de Toda uma Vida, editado este ano. Falamos naturalmente de Henrique Monteiro, a quem temos o prazer de entrevistar.
Se preferir ouvir a entrevista, clique aqui.
Henrique Monteiro, comecemos pelo jornalismo. De resto, foi repórter político, chegando mesmo a fazer a cobertura em sítios terríveis como o Irão e Angola, se bem me recordo. A pergunta é: lembra-se da primeira vez que se sentiu atraído pela profissão que acabou por abraçar?
Eu acho que não consigo determinar exactamente. Acho que tudo isto foi um acaso na minha vida. Eu andava na faculdade durante o período revolucionário e na altura as pessoas não tinham a noção de carreira, porque não sabiam qual era o dia de amanhã (para o bem e para o mal). Não é que eu achasse mal na altura, até achava divertido, mas não havia a noção de carreira que há hoje. Se me perguntassem em 1975 ou 76, quando tinha vinte anos, o que é que eu queria ser, eu não saberia responder pelo simples facto de não fazer a menor ideia. Andava a estudar História... Se me perguntassem se eu queria ser professor de História... Não, não era bem isso que eu queria. E depois quando me propuseram ser jornalista, eu achei que podia ser uma boa hipótese mas confesso que não senti uma vocação extraordinária na altura, apesar de o meu pai trabalhar num jornal, como gestor, não como jornalista. Mas nunca tinha sentido esse apelo. Não consigo sequer determinar. Nem sequer o apelo da escrita propriamente dito. Há pessoas que em jovens escrevem poemas, contos, romances... Não foi o meu caso, eu acho que vivi tempos muito extraordinários, quando tomei consciência de mim próprio; eu era de uma família contra o regime, portanto eu era contra o regime, era muito politizado e a minha consciência era muito política, muito pouco artística, literária ou jornalística ou outra coisa qualquer. Depois entrei na profissão e gostei imenso. Tanto assim é que cá estou, passados 32 anos.
No jornalismo, como em qualquer outra actividade, terá tido momentos altos que recorda com saudade e momentos de tristeza e infelicidade, suponho. Quer dar-nos exemplos de ambas as situações?
Eu não me posso queixar da minha carreira. Sou há 5 e não há 4 anos director do Expresso e vou deixar de ser agora, no fim deste ano, vou passar para outras funções dentro da Impresa. Eu tive uma carreira que nunca esperava ter, nunca esperei ser director do Expresso na minha vida, da mesma forma que não sabia muito bem o que fazer, quando entrei para jornalista também não tinha objectivo nenhum senão ser jornalista, e depois as coisas foram por outra via e uma pessoa acaba por ir atrás. Tive muita honra e tenho muita honra em ser director do Expresso e ter participado na mudança do Expresso – de um jornal grande e preto e branco, para um jornal todo a cores e berlina, mais moderno, e ter mantido a credibilidade que o Expresso tem. Tenho imensa honra nisso.
Tenho muitas histórias épicas de jornalismo. Uma pessoa nunca se esquece do que é estar num hotel a ser bombardeado e ver uma colega nossa, jornalista, a proteger as crianças... São imagens que não têm muito a ver sequer com o jornalismo. E tristezas, sinceramente, não tenho muitas. Vi mortos, pessoas mortas no chão, campos de pessoas esgazeadas no Irão, por armas químicas do Iraque. Tenho momentos de tristeza quando morreram alguns colegas, pessoas que contribuíram para a minha formação: Afonso Praça, Fernando Assis Pacheco, mas não tenho em termos profissionais, uma coisa que eu possa chamar uma grande desilusão, uma grande tristeza. Entristece-me o destino que está a levar o papel. Mas eu também sou um bocado optimista e também sou tecnológico. Fui responsável por meter o expresso na Internet há mais de 14 anos e agora vou ficar responsável pelas novas plataformas, pelos tablets, portanto há aqui mixed-feelings ou sentimentos misturados, porque tenho uma certa nostalgia do tempo do chumbo e do papel, no tempo em que ainda não havia computadores. Mas também gosto muito de computadores e de gadgets e de tecnologias. Não tenho verdadeiramente um momento muito triste, só talvez os momentos de perda, de camaradas de redacção... Costumo dizer que fiz parte de um jornal humorístico chamado Bisnau, em que nós éramos quatro e já morreram todos menos eu. Podíamos estar todos vivos, os outros eram mais velhos que eu mas não assim tão mais velhos. Eram o Fernando Assis Pacheco, o Afonso Praça e o Júlio Pinto. Enfim, são momentos tristes, mas não têm a ver com o jornalismo, têm a ver com a vida.
Papel Pardo é uma história que começa num bilhete escrito por uma mulher dirigido a um homem que ela nem sequer conhecia. Toda uma Vida é a história de uma velha espanhola de 88 anos, que acaba por se refugiar em Portugal, que nos conta os momentos marcantes da sua vida. Duas histórias, duas vidas. Que elemento comum consegue destrinçar entre ambas e de que forma a primeira narração condiciona a segunda.
A segunda pergunta – de que forma a primeira narração condiciona a segunda –, eu acho que em nada. Mas posso estar errado. Sabe como é, os críticos fazem sempre dos autores pessoas muito mais inteligentes do que elas são, porque muitas vezes as coisas não têm intenção nenhuma. Mas agora que me falou nisso, de facto são duas mulheres e duas mulheres velhas. Porquê? Não sei. A Clara Ferreira Alves no outro dia, quando leu o meu livro, dizia-me “tu estavas sempre a dizer na televisão que já estás muito velho, agora é que eu percebi, estavas a entrar na personagem”. Não, não é verdade, eu acho mesmo que estou velho. Não gosto de pessoas que não sabem envelhecer ou que se recusam a envelhecer. Acho que as pessoas devem ter a idade que têm, conhecer as limitações e as suas potencialidades. Todas as idades têm limitações e potencialidades. Os franceses têm uma frase muito boa que é “se os novos soubessem, se os velhos pudessem, mas já os novos não sabem e os velhos não podem”. De facto são duas mulheres, nunca tinha pensado nisso assim tão cruamente. A primeira mulher nasceu numa família com algum dinheiro mas que faz algumas opções de vida muito discutíveis, moralmente pouco aceitáveis para a época, sobretudo, e que acaba bêbeda, velha, sem eira nem beira, retiram-lhe o filho quando o filho ainda é bebé e ela tem um trauma com isso. A segunda senhora é uma senhora culta, não tem nada a ver uma com a outra. Eu acho que o que têm de comum é a perplexidade perante a rapidez das mudanças culturais, das mudanças do mundo, das mudanças da vida e sobretudo da imprevisibilidade da vida. Há coisas que as pessoas não controlam e uma delas é a própria vida, para o bem e para o mal. A primeira mulher é uma desgraçada, a segunda é uma sobrevivente. São pessoas muito distintas. Mas eu não conheço inteiramente nenhuma delas. Só sei a vida delas, não as conheço. Eu às vezes entrevistava escritores e eles diziam-me “as personagens ganham vida” e eu achava que aquilo era conversa mas hoje vejo que é verdade. Podemos não conhecer muito bem uma personagem, esta minha última velha nem sei se gosto dela, verdadeiramente. Não tenho muito bem a certeza do que ela é ou do que deixa de ser.
Mas ela está lá.
Ela está lá e naturalmente tudo o que ela diz fui eu que escrevi... tudo o que ela pensa fui eu que escrevi, mas isso não quer dizer que eu pense como ela. Há uma lógica intrínseca, eu comecei a perceber o que é que os católicos entendem por livre arbítrio na criação dos personagens. Elas, ou nós por elas, fazemos uma escolha e depois aquilo tem várias implicações. Todas as pequenas acções têm consequências, e uma pessoa não pode matar uma personagem ou ressuscitar uma personagem; se casou uma personagem, pode-se divorciá-la mas não descasá-la no sentido de fazer que isso não tenha acontecido. Hoje em dia pensa-se como se as coisas não tivessem consequências, como se tudo fosse possível sem pagar nunca consequências. E aí sim, acho que há aí uma coisa em que as duas se encontram, nas consequências das escolhas que fazem. Ou que são obrigadas a fazer, no caso deste último romance, ela é mais obrigada a fazer as escolhas.
Em Toda uma Vida, a personagem que ao longo do livro se vai tornando uma pessoa real, fala-nos da guerra, da fome, da homossexualidade, do aborto, da morte, da falta de ideias mobilizadoras nos tempos que correm. Deixe-mos agora a personagem e centremo-nos no autor. Há uma comunhão de pontos de vista entre si e a personagem que tão habilmente criou?
Há uma comunhão nalguns pontos e noutros não. Na falta de ideias mobilizadoras talvez haja. Ela sobre o aborto tem uma posição substancialmente diferente da minha. Ela começa por ter uma posição muito intolerante em relação ao aborto e depois, mais tarde, acha que se calhar não devia ter tido essa posição e se calhar essa segunda posição dela seja mais próxima da minha verdadeiramente. Eu não tenho uma posição radical em relação ao aborto, nem nada que se pareça. Em relação à homossexualidade, eu não percebo muito bem qual é a posição dela. Ela é confrontada com a homossexualidade de um cunhado, mas também ela não faz nenhum julgamento moral sobre isso. Acha que é aborrecido para a irmã, visto que é casado com a irmã. Aliás, a irmã da personagem é mais radical pelo facto do marido ser homossexual. Eu não sei muito bem o que é que ela pensa sobre a homossexualidade. Sobre a eutanásia, ela diz coisas que eu achei interessantes, por exemplo, “porque é que deixam as pessoas que estão tão longe da morte discutir a eutanásia, deixem isso para os velhos, a gente é que sabe quando é que quer morrer, não façam leis sobre isso”. Portanto, ela tem um conjunto de posições que eu não posso dizer que nunca pensei nisso porque fui eu que escrevi, mas que às vezes não coincidem com as minhas posições pessoais. Eu manifestei-me, no caso do casamento homossexual, fui contra a palavra casamento, eu Henrique Monteiro fui contra, não percebi se ela era. Eu acho que ela é uma mulher muito tolerante no sentido em que acha que não vale a pena já estar com muitas histórias, há coisas que não vale a pena discutir, são assim e há que aceitá-las. Quem era radical dentro dela é o filho morto. Contra o aborto e essas coisas todas. Mas é muito difícil de explicar, porque eu sobre o aborto tenho a certeza de que não partilho nada nas posições dela, e sobre as posições que ela tem, também tenho dúvidas. Mas aquilo não sou eu. Não era como o Flaubert que dizia da Madame Bovary, “eu não sou exactamente eu”... Mas algumas também sou, não posso negar.
A sua personagem central tem sempre convicções fortes. Isso leva-me a perguntar o seguinte: escreve por puro entretenimento, por uma necessidade de catarse ou, para de uma forma ou de outra, contribuir na sua cota parte para endireitar o mundo?
Em relação à última parte, devo dizer que não tenho qualquer veleidade. Eu acho que o mundo não é endireitável. Ou melhor, para já, uma pessoa para endireitar o mundo tem que saber para que lado é o direito, o que é uma coisa difícil. Pode ter a sua opinião sobre isso mas não pretendo saber ao certo para que lado é que é. Depois porque mesmo que soubesse não tinha a veleidade de conseguir fazê-lo. E em terceiro porque nem sei se isso é bom. Eu gosto do mundo contraditório. Eu gosto do confronto de opiniões e acho que o mal, muitas vezes, é as pessoas quererem soluções unívocas. E acho que uma das coisas que essa velha personagem tem, é ela perceber a validade e a realidade da contradição. É ela dizer “porque é que eu não hei-de numas algumas coisas pensar assim e noutras pensar assado”. O século XX foi um século de ideologias em que as pessoas enfileiravam. Se eram de esquerda tinham que pensar que o divórcio era bom, que o aborto era bom, a eutanásia é bom. Se são de direita tem que se pensar que é mau, que é mau, que é mau. Porquê? Uma pessoa pode ser a favor da eutanásia e contra o aborto. Claro, pode haver sempre alguém que diga que há aqui uma linha de continuidade, o problema da vida e tal, mas eu posso pensar de formas diferentes em relação a realidades diferentes. A ideia da coerência e do pensamento acaba por ser muito unívoco. E sendo unívoco é quase totalitário, obriga-nos a pensar num determinado padrão. Eu não escrevo para endireitar o mundo. Depois por catarse e por necessidade e divertimento, sim.
No final do capítulo 12 podemos ler “é triste que não morramos de uma vez mas aos poucos. E a parte mais triste é sempre aquela que persiste em viver. A minha cabeça mantém-se fora do mar quando quase todo o corpo já se afogou. Sou, pois, uma náufraga de mim própria à qual, já não podendo retirar o resto do corpo da água resta esperar que a maré suba ou ter a ousadia de mergulhar”. O tema da velhice percorre o livro do princípio ao fim. Creio que houve da sua parte o objectivo claro de denunciar a forma como a sociedade abandona os velhos, em certa medida. Concorda?
Sim. Aí estou totalmente de acordo. Eu só tenho 54 anos e a minha mãe, que já passou dos 80, às vezes diz que gostava de ter 70 porque quando tinha 70 era nova. Isto de ser novo e de ser velho também é uma razão de perspectiva. Eu acho que nós construímos uma sociedade que endeusou a juventude, de certa forma. O facto de ser jovem era bom, em si. O que não tem mal nenhum, toda a gente já foi jovem, e se tiver sorte na vida chegará a velho, ou se não tiver nenhum azar. É da condição das pessoas serem novas e serem velhas, são a mesma pessoa. Parecia que ser jovem era uma coisa boa e ser velho é uma coisa má. Isso também está a mudar, de certa forma, mas não há lugar para os velhos... A família alargada acabou, deixou de haver lugar para os velhos. O lugar para os velhos é nos lares ou viver sozinhos em casas relativamente más porque já são velhas a maior parte das vezes, com rendas baixas no caso português, não têm capacidade sequer de grande mobilidade. Vê-se que estão muito abandonados. A experiência que dá a velhice, a sociedade não sabe vê-la. Isso vê-se sobretudo nos anos 90 com a rapidez com que se fizeram as reformas antecipadas. Nas redacções dos jornais, eu gosto muito de ter aqui no Expresso muitos jornalistas com mais de 50 anos, alguns com mais de 60, mas isso é raro. Acha-se que uma pessoa com 60 anos já está praticamente terminada, é preciso sangue novo! Eu volto ao tal provérbio francês que há bocado citei, “se o velhos pudessem e se os novos soubessem”, é a conjugação do poder com a sabedoria que dá verdadeiramente a sagesse, porque só a juventude não resolve nada, se uma pessoa não tiver já um certo distanciamento. E depois a idade traz-nos tolerância. Porque já passámos por muitas coisas, já tivemos muitas pessoas de quem gostamos que estiveram em situações que à partida nós condenaríamos e percebemos que foi a vida que as levou para ali e que tudo não são escolhas, que tudo não são coisas evitáveis, que às vezes as pessoas caiem numa miséria extrema sem fazerem nada por isso. Outras vezes têm uma sorte brutal na vida, sem terem feito nada por isso. Vemos muita gente idiota chegar aos lugares mais altos da sociedade e muita gente talentosa ficar em posições que ninguém dá nada por eles. E vemos que tudo isto é um jogo um bocado de sorte e azar, que o esforço de facto recompensa, mas não é a única coisa que recompensa. Sem esforço também há pessoas muito recompensadas. Por isso eu acho que a sociedade hoje trata os velhos de uma forma bastante distante e bastante desinteressante para si própria, porque não é por acaso que nas sociedades tradicionais o velho tinha sempre um lugar. E na sociedade industrial e agora na pós-moderna ou lá como lhe queiram chamar, informática e tudo isso... mas eu acho que é transitório, isto é uma coisa revolucionária, depois isto há-de estabilizar, há-de se voltar a ideia de que as pessoas com mais idade têm uma sabedoria acumulada que é importante para o tecido social e para o conjunto social. Mas hoje em dia eles são bastante desprezados, talvez até porque muitas vezes não consigam acompanhar as mudanças tecnologias e não as consigam compreender. Lembro-me de pessoas de idade que não conseguem perceber como funciona o Meo ou a TVCabo ou a Zon... Tem muitos botões, é preciso ligar a televisão e tem muitos botões... e tudo isto não era assim. São coisas simples muitas vezes, ou um computador ou um telemóvel com muitas funções. Mesmo pessoas cultas. Não estou a falar daqueles dramas brutais daqueles velhos iletrados, que ainda são do tempo em que não havia educação para todos, esses aí são completamente marginalizados, muitos deles estão na rua a dormir e nem têm onde cair mortos, como se costuma dizer em português. Não é uma coisa que me preocupe, mas acho desumano, a forma como se tratam os velhos, e acho que muita pouca gente dedica atenção e tempo a ouvi-los. E eles têm histórias fabulosas para contar. A história desta velha é inspirada em casos reais e em pessoas reais e se uma pessoa ouvir os velhos eles têm histórias muito interessantes.
Henrique Monteiro, o que é que lhe dá mais gozo fazer: dirigir o Expresso, escrever as tão conhecidas Cartas de Comendador ou reunir ideias para um novo livro?
São tudo coisas diferentes. Eu agora vou deixar de dirigir o Expresso... Dia 2 de Janeiro já será o Ricardo Costa o director do Expresso, e eu vou para director de novas plataformas portanto isso é uma coisa que já nem ponho praticamente, porque já lhe passei quase tudo. Escrever as Cartas de Comendador dá muito gozo. Ideias para novos livros também me dá muito gozo mas como demora muito tempo nem sempre consigo passar da ideia à prática. Enquanto nas Cartas de Comendador uma pessoa passa da ideia à prática em uma hora ou hora e meia, dá ali dois toques à ideia e demora para aí uma hora a escrever, ou uma hora e pouco, um livro demora meses. Tenho um livro a acabar que está a acabar há não sei quantos anos. Eu sei como é que ele acaba mas não tenho tempo para o acabar. Espero vir agora a ter, no próximo mês ou assim, não tem nada a ver com os outros que escrevi, não tem velho nenhum, mas são gozos diferentes. E depois ainda tenho mais gozos. Eu gosto de tocar piano, por exemplo, que é a minha maior paz. Para mim, que não sou pianista nem tenho pretensões, mas aprendi a tocar e gosto de tocar e tenho um piano em casa e gosto de tocar piano. Um dia perfeito para mim era de manhã tocar piano, ao fim do almoço escrever as Cartas de Comendador e durante a tarde escrever um bocado de um livro... Mas como não consigo viver disso tenho mesmo que trabalhar.
Podemos saber que livros leu ultimamente e se gostou de algum em particular?
O último livro de todos que li, que o tive que apresentar, foi a entrevista de um jornalista alemão Peter Seewald ao Papa Bento XVI que se chama A Luz do Mundo mas esse não conta porque é uma entrevista e não é um romance. Antes disso, li um livro muito divertido em inglês, 100 Asneiras Que Mudaram a História do Mundo, que é um livro mais histórico, mas que é engraçado. Livros sérios... Li o último livro do Pedro Almeida Vieira, que foi colaborador aqui no Expresso. Gostei imenso... É um livro escrito pelo Diabo, tem uma narrativa muito interessante. Li o Dom Casmurro que comprei na Amazon e li num Kindle para iPad. Eu agora já ando a ler livros electrónicos, já estou nessa fase. Mas foi o único electrónico que eu li, os outros eram mesmo reais, livros de papel. Estou a falar dos últimos dois meses... Sou um leitor bastante compulsivo, e tenho muitos livros.
Quer eleger algum escritor clássico que o tenha marcado?
O que é que chama clássico? Que século?
XVII, XVIII, XIX...
Sabe que eu tenho uma certa dificuldade porque eu gosto de pessoas muitos diferentes. Eu adoro o Eça pela ironia, pela construção narrativa, mas também gosto imenso do Camilo. Também gosto da Jane Austen por causa dos pormenores. Gosto imenso do Flaubert. Gosto imenso de poesia. Gosto imenso do António Machado, século XIX espanhol, é um poeta que me diz muito. Gosto bastante Fernando Assis Pacheco como poeta, do Alexandre O'neill, gosto bastante do Aquilino, do Nemésio no século XX. Gosto do Saramago, que sei que muita gente não gosta. Tem umas coisas que não gostei nada mas em outros que são grandes livros. Adoro Vargas Llosa que foi agora Prémio Nobel, gosto dos livros todos do Vargas Llosa que é uma coisa muito rara eu poder dizer de um autor. E depois gosto imenso dos russos. O Tolstoi, o Dostoievski, o Tchecov, o Gogol, para mim são o máximo. Eu adorava escrever como o Tchecov. Eu sou muito eclético, gosto também dos alemães, gosto do Thomas Mann e gosto daqueles ingleses antigos, o Graham Greene e também gosto do William Faulkner, dos americanos, do Steinbeck, falhei o Garcia Marques, gosto do Érico Veríssimo, que é um autor que quase ninguém se lembra, adoro o Tempo e o Vento, acho que é um livro absolutamente fabuloso. Gosto do Machado de Assis, já aqui o referi, também brasileiro. E depois gosto dos clássicos mesmo: do Camões, do Shakespeare, tenho aqui as suas obras completas aqui em inglês, embora não as consiga ler muito bem ou tão bem quanto gostaria. Gosto do Padre António Vieira, que é fabuloso... Philip Roth, Ian McEwan... E esqueci-me do Jorge Luís Borges, que é absolutamente fantástico, para mim está quase na categoria dos semideuses. Se me pedirem o livro que se leva para a ilha deserta, aí não escolho nenhum.
Os visitantes do Portal da Literatura gostariam certamente que lhes falasse dos seus novos projectos literários.
Eu estou a acabar um livro sobre um jornalista, uma pessoa não muito recomendável e que tem um registo do tipo Comendador Marcos de Correia. É a história tal como foi contada pelo Comendador Marcos de Correia. Essa, estou a acabá-la. Tenho muitos projectos mas não sei qual vou fazer a seguir, não faço a menor ideia. Gostava de escrever um pouco sobre a minha geração, aquela geração que passou o 25 de Abril quando eu estava a estudar e que foi uma geração que foi toda esquerdista, maoísta, muito esquerdalha e que depois virou toda à direita ou para outros sítios quaisquer, e acho que há uma razão para isso. Acho que uma pessoa só percebe perfeitamente a inutilidade de algumas teorias de esquerda, não todas naturalmente, indo profundamente até ao fundo, como nós fomos. Defender a ditadura do proletariado e coisas absolutamente absurdas, como defendemos quando tínhamos 17 ou 18 anos. E como é curioso ver pessoas que saíram do Partido Comunista com 45 anos que ainda criticam estes (que quando tinham 18 anos eram esquerdistas). É engraçado, pessoas que só descobriram que aquilo era mau depois da queda do muro de Berlim. A minha geração, com 20 ou 21 anos, já tinha percebido que o comunismo era uma barbárie. Foi uma geração muito fora do poder – embora alguma se tenha encostado ao poder. As pessoas da minha geração que estão no poder nunca fizeram parte dos movimentos associativos. O Sócrates, o Passos Coelho, o Marques Mendes, nenhum deles fez parte dos movimentos das universidades da altura. Alguns nem sequer lá andavam. Há uma excepção – o Durão Barroso, que era do MRPP –, mas é mesmo uma excepção. A maior parte das pessoas foram da extrema-esquerda, seja da UDP, da MRPP... Havia dezenas de grupos. Eu, por exemplo, era de um chamado OCMLP que já ninguém se lembra, felizmente. Se calhar gostava de escrever sobre isso, um dia, mas não sei se tenho muito talento... talento e memória, e é preciso mais talento que memória porque dados existem, também não foi assim há tanto tempo. E tenho outras coisas que também gostava de escrever. Acho que um dia gostava de escrever coisas que passei em África. Talvez gostasse. Mas são muito vivas e são muito dolorosas. No outro dia, quando estava a apresentar o livro do Papa, comecei justamente por dizer que não sou católico e que as pessoas que me convidaram sabiam que eu não sou católico... Eu disse uma frase que resume muito bem aquilo que eu penso que é, as pessoas gostam de analisar o mundo a partir deste lugar confortável que é a Europa e que é o Ocidente, porque o mundo real é bastante doloroso e a compaixão não está nada na moda. A gente vê estes debates presidenciais sobre a pobreza... Enfim, o Nobre talvez tenha visto pobreza verdadeira, os outros nem nunca viram um pobre. Um pobre a sério, não é um pobre dos que vivem aqui em Portugal, mas os pobres a sério. Aqueles pobres mesmo pobres, aqueles pobres das palhotas de África, de algumas partes da Ásia, da Índia e daquilo que era a América Latina e que felizmente está a deixar de ser. E como a globalização está a fazer com que os pobres sejam menos pobres, ao contrário deste lugar confortável. A Esquerda começou por dizer que a globalização era uma forma de os países ricos ficarem mais ricos, mas não é nada. Felizmente para o mundo, a Esquerda não tinha razão nessa matéria e de facto o que a globalização está a fazer é a dar comida a uma série de países: na China, na Índia, no Brasil; mesmo em África, certos países começam agora a sair da miséria extrema. Continuam a ser países muito pobres e com muitas dificuldades, mas já saíram da miséria mais extrema. A gente vê o Brasil e percebe que já não tem nada a ver com o que era. Moçambique e Angola são países hoje melhores do que eram. Cabo Verde é praticamente um país ao nível europeu. E isso é bom... Nós estamos a empobrecer, mas se há uma coisa que se aprende na História – e a minha formação inicial foi História –, é que não é possível um centro extraordinariamente rico sobreviver rodeado da mais extrema pobreza. Foi por isso que Roma também caiu com as imigrações, com as pessoas pobres que vinham para o centro a fugir da miséria. É bom isto estar a acontecer e é bom haver um reequilíbrio do mundo. A única dificuldade é que é feita à nossa custa: europeus, ocidentais, americanos, japoneses. Mas enfim, acho que no conjunto o mundo está bem melhor do que era. Aliás, o Economist esta semana trazia um artigo muito interessante chamado Redistribuição da Esperança que é exactamente sobre isto que estamos a falar. Neste momento a esperança não é uma coisa só do Ocidente. Há mais esperança em mais lugares do mundo.
Henrique Monteiro, muito obrigado por esta entrevista.
21-12-2010
Mais entrevistasVoltar