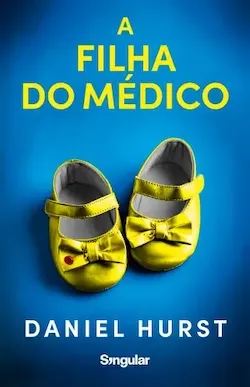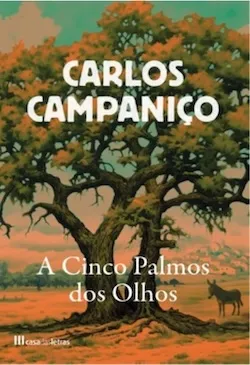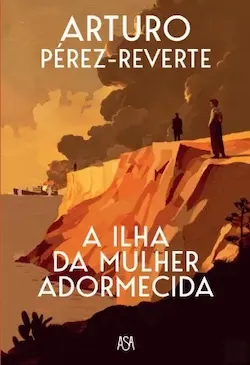Folheando com... Pedro Almeida Vieira

Pedro Almeida Vieira nasceu em Coimbra em 1969. É autor de ensaios e de vários livros de ficção. Angariou vários prémios literários, de jornalismo e também, entre outros, o Prémio Nacional do Ambiente Fernando Pereira. Tem actualmente vários projectos literários em preparação.
Como é que alguém que se licencia em engenharia biofísica se põe a escrever romances históricos, Pedro Almeida Vieira?
Penso que da mesma forma que alguém que se licencia em direito, em medicina, em filosofia, mesmo em letras ou outra qualquer área. O «hábito», ou seja, a formação académica não determina a maior ou menor capacidade na escrita. Confesso que aceito que se possa achar estranho, mas penso que essa estranheza não faz muito sentido. Ou então também se deve questionar como é que um militar, ainda por cima arruaceiro, chamado Luís Vaz de Camões, conseguiu escrever um poema épico como Os Lusíadas. Ou como o Gonçalo M. Tavares, licenciado em Educação e Desporto, se pôs a escrever romances, novelas, contos, poesia, teatro e ensaios...
Tem quatro romances históricos. É a História que o puxa para a ficção ou a ficção que o puxa para a História? Os seus romances assentam em factos ou personagens dos séculos XVI, XVII e XVIII. Por algum motivo especial?
Não me gosto de ver catalogado como romancista histórico. Eu prefiro dizer que escrevo apenas romances. Se são do género histórico, isso é outra coisa. Quase todos os romancistas portugueses de nomeada tiveram incursões no género histórico e penso que isso se deve a algo muito simples: escrever sobre o passado ajuda a reflectir e a compreender muito melhor o presente, a perspectivar o futuro. Desgraçado daquele que julga que só o presente tem interesse. Além disso, a escrita de um romance constitui sempre uma viagem, e atrai-me «viver» noutros tempos. Em todo o caso, quem ler com a abertura devida os meus quatro romances verificará que está lá corporizado um olhar contemporâneo, sobretudo no meu primeiro romance (Nove Mil Passos) e no quarto (Corja Maldita). Talvez neste último ainda mais, porque subverte o registo histórico, quebra o conceito temporal e, embora retrate os episódios que levaram à extinção dos jesuítas no século XVIII, há um olhar sarcástico (o do narrador, o próprio diabo) sobre a actualidade e, em especial, sobre a natureza humana. Em suma, eu escrevo sobre a natureza humana, que, bem vistas as coisas, não é agora muito diferente do que era há uns séculos atrás.
Em qual dos quatro romances investiu mais tempo a investigar?
Nunca fiz uma contabilização do tempo despendido no processo de investigação para a escrita dos meus romances. A minha única preocupação é não cometer anacronismos nem erros históricos, ficcionando ao máximo mas com um compromisso: aquilo que relato não foi exactamente assim, mas se fosse não teria alterado em nada a História. Por vezes pensa-se que, no género histórico, se tem uma «muleta» nos documentos, mas quando se tenta ser rigoroso, afinal não há «muleta», mas sim obstáculos, pois a ficção tem de fluir sem «violar» a História. Os meus romances estão inundados de ficção (por vezes mais do que se imagina), mas duvido de qualquer historiador possa apontar um erro histórico, uma incongruência ou uma impossibilidade. E digo isto até no caso do romance «A Mão Esquerda de Deus», que constitui uma completa recriação, muito ficcionada, de uma lenda sobre a origem da Inquisição em Portugal, mas que está perfeitamente encaixada nos acontecimentos daquela época.
O próximo romance literário será também do género histórico?
Talvez. Neste momento estou a concluir o segundo volume do «Crime e Castigo no País dos Brandos Costumes», um conjunto de narrativas sobre crimes portugueses que decorreram ao longo dos séculos antes da abolição da pena de morte, e publiquei recentemente um ensaio sobre resíduos sólidos urbanos e organizei a edição da obra «O Estudante de Coimbra», de Guilherme Centazzi, a pioneira obra de ficção moderna portuguesa, publicada originalmente em 1840 e 1841, portanto antes dos primeiros romances de Herculano e Garrett. No entanto, antes de escrever esse novo romance – uma espécie de policial que abordará um episódio muito interessante relacionado com a condição feminina no século XVIII –, pode ser que escreva algo diferente. Mas fiquem descansados os leitores, tenho em mente um romance dito «contemporâneo»...
Os leitores dos seus livros são confrontados, nos romances que escreveu, com a impreparação e embustice até de alguns dos nossos reis. D. João III, por exemplo, cognominado O Piedoso, pela sua devoção religiosa, esteve na base da Inquisição em Portugal. Tendo investigado bastante a História portuguesa no período que decorre entre os séculos XVI a XVIII (pelo menos), que personalidades destaca, quer pelo que de grandioso fizeram, quer pelas desgraças que foram semeando?
Essa é uma pergunta difícil, diria mesmo impossível de responder. Quando escrevi o romance «A Mão Esquerda de Deus», bem como nos outros romances, tive, de facto, oportunidade de reflectir sobre muitas questões. Uma delas é que jamais devemos cair no erro de ajuizar sobre homens e mulheres que viveram em determinadas épocas, sujeitas a condicionalismos e mentalidades muito próprias. A Inquisição foi, a este respeito, uma das páginas mais negras da História europeia, e por isso até se poderia dizer que o rei D. João III foi o «carrasco» do atraso crónico do país. A Inquisição e, em geral, a Igreja Católica dessa época, teve uma acção nefasta nas mentalidades, na fuga de pessoas e de capitais, cujos efeitos nefastos, para além das mortes causadas, se prolongou pelo menos até ao século XVIII. Ao invés, a acção do rei D. Manuel foi, no meu ponto de vista, mais favorável e, de facto, foi uma pena que a sua política, económica e de tolerância, não tenha sido continuada. Em todo o caso, houve homens determinantes para a mudança de mentalidades. E no século XVIII é incontornável falar do papel do marquês de Pombal. Contudo, diga-se que jamais gostaria de viver num país governado por ele. Na verdade, costumo dizer que ao pé do marquês de Pombal, com o seu despotismo, o Salazar era um menino do coro...
Que diferença há, Pedro Almeida Vieira, entre o jovem que escreveu o ensaio Eco-Grafia do País Real e o escritor dos romances A Mão Esquerda de Deus ou Corja Maldita?
Existe uma década de diferença, o que na vida de um homem é muito, sobretudo se se olhar para a vida como um processo de «procura do conhecimento permanente», embora não na mesma perspectiva do ministro Miguel Relvas.
A crise afecta necessariamente a Literatura. Como olha para a crise que assola o mundo, em geral, e Portugal, em particular?
A crise não me surpreende nem nos deve surpreender. Aliás, basta ler o meu ensaio de 2003, «O Estrago da Nação», para perceber que Portugal caminhava para o abismo. Mas, se olharmos mais uma vez para a História, a actual crise é uma espécie de dejá vù, até numa análise financeira. Por exemplo, no século XVII, houve uma bolha especulativa, com tulipas – veja-se bem! –, tal como recentemente sucedeu com a construção civil. Por outro lado, Portugal viveu sempre em crise: se lermos muitos autores do século XIX, as suas críticas são similares às que fazemos agora. Na verdade, só houve dois momentos da História de Portugal em que não houve crise: na Época dos Descobrimentos (mas com guerras constantes) e na primeira metade do século XVIII (com o ouro e diamantes do Brasil). E talvez com a entrada de Portugal na União Europeia: mas aí cometeu-se o mesmo erro que nos períodos que atrás referi: achou-se que a «mama» durava para sempre e que não era preciso trabalhar para enriquecer.
Por último, e uma vez que estamos em período de férias com muita gente a comprar livros, que obras recomendaria?
A lista poderia ser tão longa que fico apenas por uma recomendação: o romance «O Estudante de Coimbra», de Guilherme Centazzi, (re)editada este ano pela Planeta. Não é por eu ter organizado a sua edição (fixação de texto e notas); é por estarmos perante a primeira obra de ficção moderna escrita por um autor português, injustamente ignorado na sua época, e que, por paradoxal que possa parecer, foi também o primeiro romancista português com obra traduzida no estrangeiro (Alemanha, em 1844).
Mais entrevistasVoltar