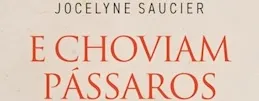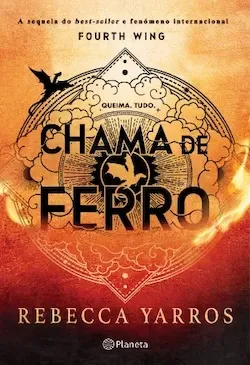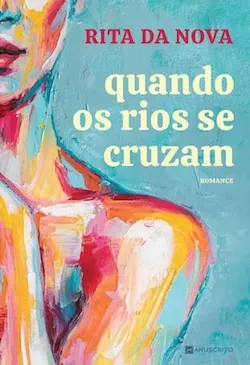Raízes - Tânia Ganho

A casa dos relógios parados
2010-11-23 00:00:00Mesmo depois de morto, ele continuou a ser o rei da casa, o pater familias. Nós vivíamos longe dele, mas não do seu poder. Todos os Verões, íamos visitá-lo, ficávamos na sua terra durante um mês, um mês na ilha onde as mulheres rezavam a Santa Bárbara em noite de temporal e nunca se juntavam treze pessoas à mesa.
Os meus pais e eu dormíamos no quarto azul-celeste, que pertencera à minha tia mais nova antes de casar. Ela decorara-o com móveis brancos, modernos, de linhas rectas, sobre os quais tinha sempre diversas bonecas aninhadas entre os livros dispersos que contavam histórias de amor – era um quarto de futuro e esperança. Os meus irmãos ocupavam o antigo quarto da minha avó – o quarto do passado –, onde a cómoda de cerejeira era repositório de lençóis bafientos e colchas bordadas, a mesinha de cabeceira luzia a caixa de jóias com brincos de ouro e pregadeiras de vidro colorido, e as portas do roupeiro rococó protegiam longos vestidos mofentos de renda e folhos. Durante anos, o quarto da avó foi sala de jogos das crianças da família. Escondíamo-nos junto da janela e do lado de fora só se nos viam os olhos acima do parapeito, concentrados a espreitar o avô a regar as rosas do jardim e, à noite, a criada a namorar ao portão de ferro.
Quando o meu avô morreu, passei a ficar no terceiro quarto da casa, onde raramente se abriam as portadas verdes e os dias decorriam numa penumbra assombrada. Eu não conseguia dormir, porque fora naquele quarto que ele falecera. As paredes eram de uma cor doentia, desmaiada, e estavam cobertas de fotografias dos meus tios quando eram jovens, rostos sorridentes em redor do semblante sério daquele pai de onze filhos, o patriarca. O roupeiro estava cheio de sapatos, camisas, calças e coletes e, debaixo da cama, alguém guardara os chapéus pretos que ele usava todos os dias de manhã para ir trabalhar. Dentro de um armário, ainda se encontravam os medicamentos que tomou até morrer. Sobre esse armário de portas sempre fechadas e cheiro a doença, estavam alinhados os relógios que ele acarinhava no bolso do colete. Às onze horas, num ritual que se repetia todas as noites, o irmão mais velho do meu pai dava corda aos relógios, para que o seu ruído metálico e monótono se fizesse ouvir na eternidade.
Hoje, a casa já não tem rosas e relógios, nem crianças a correr e criadas a namorar ao portão. Já ninguém acorda o Avô com bonecos a tocar tambor quando ele dorme a sesta na poltrona, ninguém grita «um morganhinho!» a ver televisão na marquise abafada, ninguém conversa pela noite dentro encostado à bancada de mármore da cozinha. Ninguém esconde as papas de milho do patriarca quando ele se senta à mesa, ninguém despeja um frasco cheio de moscas na salinha onde ele adormeceu a ler o jornal. Os pombos-correio que criava voaram para longe, os primos cresceram e casaram-se, as fotografias desapareceram no fundo de um baú que, um dia, alguém encontrará soterrado no sótão.
Longe da ilha e da minha infância, sozinha em Lisboa, ainda ouço os relógios a tiquetaquearem e é o meu avô quem lhes dá corda. Os medicamentos desapareceram do armário e a Avó tira os seus vestidos do roupeiro todos os dias para ir ao mercado, a minha tia acabou de se apaixonar pela primeira vez e os sorrisos voltaram a enfeitar as assoalhadas, os primos brincam às escondidas no quintal e a vida impera na casa, por entre as rosas do jardim, o jardim mais bonito do Funchal.
Nesta imagem que guardo intacta, a morte ainda não começou a levar as pessoas que amo, uma a uma, em insuportáveis vagas que se sucedem sem justiça nem compaixão.
Mais raízesVoltar