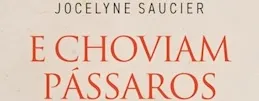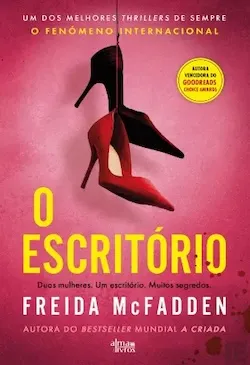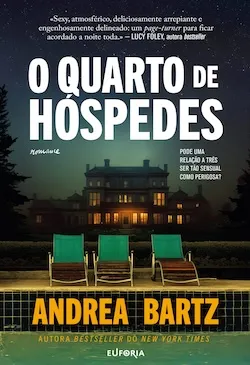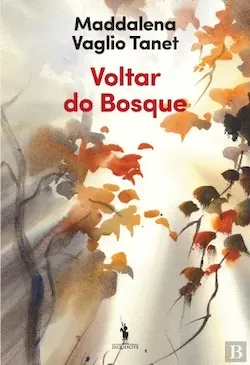Raízes - Cláudia Cruz Santos

Nenhuma Verdade se Escreve no Singular
2019-03-22 08:17:47Um tribunal não é uma casa, pelo menos no sentido habitual que damos à palavra «casa». Não moramos lá, não podemos antepor- lhe a palavra «nossa». É só um lugar, uma caixa onde entram e de onde saem muitas pessoas, mas afinal uma caixa de ressonância muito diferente para uns e para outros. Para uns significa sobretudo trabalho, burocracia e tédio. Para outros é sinónimo de desconhecido, perigo e medo.
Amália não queria fazer parte nem de uns nem de outros. Mas Amália é juíza. E isso torna-a logo, mesmo a um primeiro olhar, mais próxima de uns do que de outros. Por mais que o não queira, o traje preto e solene tem o seu peso, o peso muito pesado daquilo que deve ser. O dever ser que se quer impor ao ser. O preto que Amália veste talvez acabe por se lhe colar à pele e talvez acabe por se sobrepor, apagando-as, às cores garridas ou esbatidas dos homens e das mulheres preocupados que se vão sentando na sua sala de audiências. Ou talvez não.
A cor daquele dia é sobretudo o cinzento, chovem gotas gordas que molham e tornam escorregadias as folhas castanhas que atapetam a praça, e se olharmos bem à nossa volta podemos concluir que há de facto muito mais cinza e bege no horizonte do que preto ou branco. Amália sacode o guarda-chuva e entra. Sente a humidade e o odor de muitos corpos aprisionados num átrio amplo que parece estreito e pensa que não é por acaso que tribunal rima com hospital. Lugares por onde as pessoas passam com a esperança de resolverem problemas. Lugares onde às vezes as pessoas descobrem novos problemas. Lugares onde o coração bate mais depressa e a garganta se aperta, onde se sente a humidade e se cheira a transpiração dos outros. Lugares onde se sofre e onde se sente a espessura do medo nos corredores compridos e brancos. Lugares onde, de quando em quando, muito de quando em quando, vibra a energia de quem crê por momentos que está a ganhar à vida.
Lugares onde trabalham pessoas que sobrevivem à custa dos problemas de outras pessoas. Pessoas que às vezes já nem se lembram de que é com isso que estão a lidar, outras pessoas, porque já só conseguem ver folhas de papel, notas de cinquenta euros ou, cada vez mais, páginas de processos em écrans de computadores. Tanto nos tribunais como nos hospitais há uma fronteira, invisível mas nem por isso menos presente, sempre muito nítida, que separa os possuidores de respostas, aqueles que sabem os segredos, daqueles que nada sabem e anseiam por respostas — respostas a perguntas que com frequência se lhes prendem nas gargantas, engasgando-os, perguntas que nunca fazem porque acham que é um atrevimento ou porque lá bem no fundo estão apavorados com o possível sentido da resposta. Profissionais e leigos. Empoderados e desapossados.
Amália veste a sua beca e entra na sala. Todos os dias fala com pessoas que lhe são desconhecidas, procurando vê-las e escutá-las, sempre com receio do dia em que já não as verá ou escutará verdadeiramente, na sua multiplicidade, especificidade, diversidade.
Amália atrasa todos os dias a chegada do dia em que todos lhe parecerão iguais. Hoje ainda não é esse dia. Manuel e Adelaide, os colegas que serão seus asas no julgamento de quatro pessoas acusadas de um crime de roubo, também já estão na sala. Amália precisa de olhar para baixo, para o banco onde se sentam os arguidos, para perscrutar os quatro rostos fechados. É, por seu turno, observada pelos quatro, com um misto de curiosidade e expectativa, mas sobretudo antecipado desencanto.
Os três homens são surpreendentemente parecidos. São homens que alguém enfiou à pressa em fatos baratos que tolhem como armaduras os braços com músculos esticados em ginásios. Peles tisnadas, cabelos muito curtos, mãos grandes e olhares endurecidos. A mulher distingue-se. Há nela duas mulheres: a mulher que poderia ter sido, alegre, enganadoramente loira, voluptuosa e generosa; a mulher que é, precocemente envelhecida, dentes enegrecidos sob uns lábios teimosos que persistem em ser rubros, escondida dentro de um vestido que lhe disseram que era sóbrio, discreto, mas que nela faz pensar em desfiles de carnaval e ruas sujas de copos e garrafas partidas. A pecadora disfarçada de secretária.
Os quatro arguidos, mais encolhidos do que sentados na primeira fila, são informados dos factos que a acusação lhes imputa e perguntados sobre se querem dizer algo sobre esses factos. Não querem. Nenhum quer. Tinham-lhes explicado que podiam invocar um «direito ao silêncio». Que quanto menos dissessem melhor seria para todos. A única coisa que querem é que tudo acabe o mais depressa possível, desde que no fim possam regressar a casa. Porque no fundo é isso que ali está em jogo. A possibilidade de voltar para casa. E «casa» é aqui um quase sinónimo de «vida», mais feita de ar e espaço do que de paredes. O que mais receiam hoje são precisamente paredes. As quatro paredes de uma cela. Aquilo por que os quatro mais anseiam é uma casa sem muros, sem portas fechadas, construída de nuvens, ar e vento no rosto.
Por momentos, lá fora, as nuvens afastam-se, a chuva interrompe-se e uma luz optimista e forte atravessa as janelas daquele tribunal. Levantam-se algumas cabeças, a manhã parece mais bonita, ressurgem os ruídos e os movimentos da vida lá fora. Mas sol de pouca dura. A realidade daquele julgamento volta a reclamar-nos.
O Procurador da República, esguio e também imponente nos seus trajes escuros, tem uma opinião muito clara. Não lhe sobram dúvidas. Os factos elencados na acusação apresentada pelo Ministério Público são graves. Há uma prisão algures que de repente se mexe, fica mais próxima, eis que está quase ao virar da esquina. E não, a história não é bonita. É uma história que, assim contada, parece desde o princípio pouco coerente com finais felizes. Andreia, a mulher, trabalhava como alternadeira. Entre copos de whisky barato vendido como se fosse caro, numa pista mal iluminada onde soava uma música lenta, dançava e ia conversando com António, cada dia mais insatisfeito com a brevidade daqueles seus contactos. António queria conhecê-la melhor, dizia. Ambos sabiam do que se tratava. Queria conhecê-la melhor, de preferência num motel onde o preço da hora não fosse excessivo, com uma cama grande e um espelho próximo. Não era perspectiva que entusiasmasse particularmente Andreia, diga-se. Mas também não era imagem que lhe causasse especial repulsa ou transtorno. Aprendera há muitos anos que o corpo que tinha era só isso, um corpo que na adolescência lhe causara sofrimento e dor mas que depois lhe começara a trazer algumas vantagens. Não alegrias. Muito menos a felicidade. Mas um corpo que de vez em quando lhe era útil. No fim, ficava tudo na mesma. Sem história.
António tinha, porém, uma particularidade — não uma originalidade naquele que era o mundo de Andreia, note-se, mas sempre uma particularidade. Tinha dinheiro. Pelo menos mais dinheiro do que a maioria dos outros homens com quem dançava na pista escura. Era gerente de uma empresa de construção civil que o pai criara há cinquenta anos e com a qual tivera muitos lucros no tempo em que os terrenos baratos saíam da terra como se fossem cogumelos para depois serem vendidos ao preço da trufa. O pai de António fora uma espécie de garimpeiro. Ou talvez não, que é difícil imaginá-lo, conservador, hipócrita e gordo, no papel das formigas das fotografias de Sebastião Salgado, que trepam montanhas sem que cada um tenha nome ou idade, sem rosto, em fileiras longas e sinuosas de quase-pessoas que sabem sempre que da perícia de cada um depende a vida dos outros. Se um cai, caem os outros. Ou talvez nem exista cada um. Talvez aquilo que existe nas fotografias de Sebastião Salgado seja apenas um único ser vivo gigantesco, trepador, vibrante, sinuoso. O pai de António era sinuoso, sim, mas trabalhou sempre sozinho. Nunca confiou em ninguém, ajudou alguém ou empurrou para cima fosse quem fosse. Era mais conhecido por poupar dinheiro nos capacetes dos seus operários ou nas vigas de segurança para os andaimes. Não, o pai de António não fora um garimpeiro. Estava mais para caçador, porventura. Feroz, de qualquer modo. Eficaz.
A ferocidade e a eficácia, associadas a uma escassa vocação para a honestidade, fizeram-no ganhar muito dinheiro. É certo que desse dinheiro que acumulou não sobrara muito, mas o que sobrara parecia muito a Andreia. António e os irmãos, menos ferozes e eficazes do que o pai, desaproveitaram a oportunidade de usarem a escola como elevador social porque achavam que a fortuna amealhada pelo mais velho era suficiente para os dispensar de subirem escadas ou sequer entrarem em elevadores. E gastaram, gastaram, gastaram. Ou redistribuíram, infelizmente menos por mulheres como Andreia — que os mantinham entretidos e distraídos dos seus fracassos — e mais pelos homens que as exploravam. Tinham sobrado, porém, algumas coisas. António ainda usava um relógio de ouro e conduzia um Audi, que a Andreia só não lembrava mais uma banheira porque não era branco.
Cerca de um ano antes deste dia em que agora se reencontram numa sala de audiências de um tribunal, Andreia teve uma conversa (uma conversa que vale a pena ser lembrada) com Rui, Bruno e Alcides — que partilhavam a circunstância de se dedicarem a biscates nem sempre legais, como a vigilância, disciplina e transporte das mulheres que trabalhavam com Andreia, além de lhes assegurarem o fornecimento das drogas adequadas a garantirem o entusiamo estridente tão apreciado pelos clientes do Escarlate e das outras casas de alterne por onde iam passando.
Enquanto bebericava uma cerveja, Andreia comentou, irónica, a obsessão de António, que insistia cada vez com mais frequência num encontro a sós:
«O gajo não me larga.» O assunto suscitou aos outros, para surpresa da mulher, mais interesse do que teria imaginado.
«Esse é o tipo do Audi cinzento?», perguntou Alcides.
Os restantes fizeram mais perguntas. Se costumava trazer consigo alguma arma («sentiste-lhe alguma coisa no casaco ou nas calças quando te agarrava?»). Se era casado («não eram todos?») e se tinha necessidade de ocultar os seus encontros com Andreia («quem tem segredos fica sempre em pior posição para partilhar as desgraças que lhe acontecem, essa é que é essa»).
A mulher só compreendeu o propósito de tantas interrogações quando Rui, falando por todos, lhe fez uma proposta:
«A tua parte é fácil, dizes ao gajo que queres estar com ele e dizes-lhe para te levar de carro para um sítio deserto; nós arranjamos quem vá lá pregar-lhe um susto e tirar-lhe o carro, o relógio, o que tiver.»
O plano pareceu lucrativo a Andreia, apesar de não destituído de riscos. Alcides tinha uns contactos no estrangeiro, vendiam o carro sem dificuldades e dividiam o dinheiro. Tudo a dividir por quatro.
Andreia titubeou. Pensou dizer que não. Pareceu-lhe perigoso e compreendeu mal o que significava aquele «mínimo de porrada necessário» a que os encapuçados contratados para o efeito poderiam ter de recorrer.
Mas depois fechou os olhos e pensou no resto. Imaginou cocaína em filas de geometria impecável. Viu um hotelzinho no litoral de onde sairia descalça para a areia fina e branca para de seguida mergulhar no azul transparente do mar morno. Lembrou-se do vestido verde-esmeralda que estava na montra daquela loja da avenida cara, a loja onde nunca entrara por antever a educação gelada e o discreto olhar crítico de uma funcionária alta, magra e elegante.
Mudou de ideias:
«Vamos a isso, contem comigo», disse a Rui, Bruno e Alcides.
E assim foi. Tudo correra como planeado, excepto quanto a duas questões que inicialmente pareciam de pormenor. António reagira e por isso o mínimo de violência necessária acabara por ser mais do que o previsto. As marcas com que ficara e a necessidade de internamento hospitalar tornaram difícil guardar segredo sobre o acontecido. António teve de contar algumas coisas à mulher e, depois disso, contar tudo à polícia parecera-lhe de repente fácil.
Agora estão todos aqui. António também. E foi precisamente depois de António ter prestado as suas declarações, apontando para ela e dizendo «foi aquela que me levou para o pinhal e que ficou a ver enquanto os outros com as caras tapadas me espancavam; depois fugiram todos no meu carro e deixaram-me ali», que Andreia voltou a mudar de ideias. Também desta vez fechou os olhos. Mas já não imaginou a cocaína branca, o mar azul, o vestido verde e vaporoso. O que viu foi uma cela estreita e vazia. Escura, muito escura.
Enquanto António falava e Andreia fechava os olhos com força, o tempo pareceu suspender-se na sala de audiências. Como se fosse possível todos sobreviverem sem nunca mais respirarem.
Por momentos foi nisso que se quis acreditar. Mas não, claro, não podia ser. E tudo voltou de súbito a mover-se quando a mulher loira de lábios pintados levantou a cabeça e disse que queria falar. Andreia contou muitas coisas, durante muito tempo. Disse que tinha sido apenas, como sempre, um instrumento nas mãos dos homens. Desta vez nas mãos de Rui, de Bruno e de Alcides.
Que a ideia de roubar António tinha sido apenas deles. Que só fora usada como isco, sem nunca imaginar tudo o que iria acontecer depois, o nariz partido, o sangue, os gritos. Contou que nascera pobre, fora pouco à escola e continuava pobre. A mãe, que preferira manter o marido a defender a filha, escolheu a versão em que quis acreditar e essa não foi a versão de Andreia, por isso deu consigo na rua aos quinze anos. Um vizinho mais velho acolheu-a, mas percebeu depressa que não por mera generosidade.
Começou cedo a consumir drogas, trabalhou em muitos sítios como aquele, compreendeu agora que está a envelhecer.
Quer tratar-se. Quer mudar de vida.
Amália ouve-a atentamente, na sua máquina do tempo. Porque numa sala de audiências de um tribunal, num julgamento penal, viaja-se muito no tempo. Há o antes, o agora e o depois. O antes em que o crime aconteceu, o agora em que é preciso decidir, o futuro que é imprevisível mas que o juiz precisa de encaminhar no sentido da paz e da segurança. Há que rumar ao passado, quase com cuidado de historiador, para descobrir o que sucedeu. Quem fez o quê? Quem tem culpa? Quanta culpa, afinal? Reconstrói-se, no presente, o passado. E há que decidir neste presente que temos o que fazer no futuro próximo («pena de prisão ou não?»), crendo que tal decisão pode condicionar no sentido desejado um futuro mais longínquo. Esse futuro longínquo que é afinal o resto da vida de Andreia e dos outros. Demasiados segmentos temporais, pensa Amália.
Demasiadas piruetas no tempo. Algumas coisas desvendadas mas demasiadas coisas indemonstradas.
Sente-se uma viajante no tempo, Amália. Está cansada. Sobretudo cansada de viver tanto no tempo dos outros, enquanto o tempo da sua própria vida teima em fugir-lhe. Amália olha para Andreia, uma mulher quase da sua idade, que vive na sua cidade e no seu país. Podiam ser parecidas, mas não têm nada em comum.
Pelo menos nada que Amália consiga ver.
E de súbito, porventura com alguma crueldade e com pouca justeza, Amália pensa que, apesar de todos os pesares, Andreia sempre está a viver, com intensidade, a vida que é a dela. Já Amália, pensa a própria, talvez tenha caído na armadilha mais comum a quem toma decisões sobre as vidas alheias. Usa as suas circunstâncias como pretexto para fugir à tarefa de eleger os rumos que quer dar à sua vida. E a única verdade — a única — que naquele momento, naquela sala de audiências, consegue antever é esta: não faz nenhuma ideia daquilo que realmente quer. São sempre mais fáceis, as verdades dos outros. Apesar de serem com frequência várias e tão diversas.
Voltar