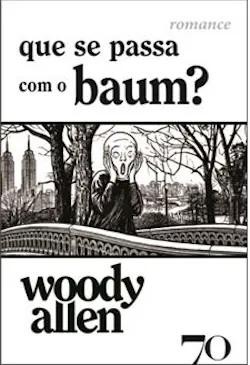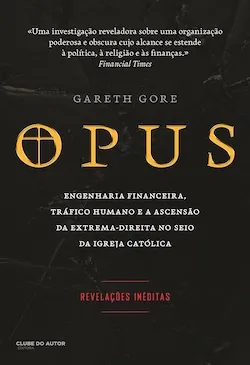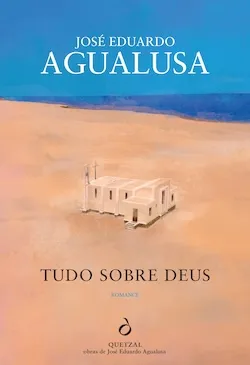Raízes - João de Melo

O Processo
2023-03-14 10:00:18O visor do meu aparelho de casa indica-me a proveniência da chamada telefónica: Estados Unidos da América. Isso significa família. A minha, sendo estrangeira, ainda arrasta atrás de si os seus cuidados com o meu quotidiano de Lisboa. Mas agora o caso é outro. Sempre que me ligam fora de épocas festivas ou dias de aniversário, vem-me logo o sobressalto: poder tratar-se de alguma emergência - uma notícia má sobre gente acidentada, uma doença grave ou mesmo a morte súbita de alguém. Os irmãos e os cunhados mais velhos começam a perder os dentes e a ouvir mal; e a queixar-se cada vez mais das suas novas e antigas maleitas, ditas em inglês ou num português distorcido pela sua pronúncia americana. Ao mínimo pretexto, e a meio da conversa, aludem aos seus problemas de saúde, às tristezas da velhice, ao fim dos bons tempos americanos e à sua própria morte:
– Que estará aí, não tarda, para me levar – dizem-no numa voz chorosa que me tange no ouvido como a corda sonora de um sopro na distância.
É cada vez mais raro que me telefonem sem ser por um motivo especial, quero eu dizer, por mera cortesia e como se me fizessem uma visita, sem que se lhes anuncie na voz um tom de mágoa ou de severidade contra a vida.
Atendo de imediato. Mas a voz que me responde do outro lado da linha é a de Hermes, o meu cunhado, marido da Arminda. E logo ele que não telefona nem manda recados por ninguém, e nunca me escreveu um simples postal de anos ou com votos de boas-festas! Ela sim, que o faz com regularidade, sem ser por rotina, nem só nos dias por ela assinalados a vermelho no calendário de parede - a saber como estou eu de saúde, cá tão longe, em Lisboa, sozinho e nesta idade. Nunca deixou de me desejar os bons natais e os felizes anos novos, nem de me felicitar pelo dia de aniversário. A começar pelo zelo para com todos e pela sua dedicação à família, a mana Arminda sempre esteve muito acima do marido em tudo.
Na última vez em que os visitei em New Bedford, deu-se entre mim e o Hermes um sério arrefecimento de conversas e modos de trato. Nada de palavras. Pouco mais do que monossílabos e acenos de cabeça a dizer que sim, não e talvez. Chegara ao meu conhecimento que ele andava a tratar mal a minha irmã. Atrevera-se até a bater-lhe uma vez e outra, e outra. Disse-mo quem a viu com um olho negro e escoriações nos ossos malares. E a parva que não foi mulher para engrossar a voz e partir-lhe a cabeça com um banco da cozinha; nem teve artes de o entregar à justiça americana e pô-lo com dono, que ele bem o merecia! Vergara-se desde a primeira hora à ideia e ao dogma de fé segundo qual o casamento religioso era o sacramento do matrimónio, tão sagrado e sacrossanto como uma escritura selada para a vida e para a morte.
Sem nunca mo ter dito claramente, Arminda dera-me por diversas vezes a entender que eu vivia em pecado permanente, antes e depois do meu divórcio da Guida – casados que fomos pelo registo civil, e não pela Igreja. Depois disso, não me atrevo a imaginar o que terá ela dito e pensado de mim, ao saber das incontáveis namoradas e amantes que tive durante anos e anos, após o divórcio, para me redimir de tão árida e arrastada monogamia e da prepotência conjugal da minha ex-mulher. Na cabeça da pobre Arminda, o pecado envenenara já o pensamento, o amor e a vida de metade da nossa família: tinha-nos na conta de uns “amigados”, uns “acasalados como pombos”, a dormirmos juntos e a vivermos, sem remorsos nem confissão, na mesma casa. E, ainda segundo ela, a não batizarmos nem crismarmos as nossas crianças. Pior, muito pior: sabermos que as nossas filhas e os namorados praticavam o sexo amoroso antes de casarem, quantas vezes na própria cama dos pais, e nós impassíveis, virando a cara a tudo, sem nada fazermos para contrariar tais abusos e faltas de respeito da gente nova. A culpas e a situações como essas não havia volta a dar, nem pela confissão ou pelo arrependimento. Tratava-se de um pecado absoluto e que ela designava por “mortal”; ou seja, desses que condenam as almas à excomunhão e a levarem como destino final a casa sempiterna do Diabo.
Quanto ao meu cunhado, afrontava-me saber que esse homem grosso e ventrudo, com grandes mãos de capador de cavalos, passasse os seus tempos livres à frente da televisão e a idolatrar o presidente Ronald Reagan, os novos satélites espaciais, a sua guerra das estrelas, o medo que ele, Reagan, com os seus olhos de falcão, impunha de longe e perto aos regimes comunistas, fossem eles soviéticos, chineses ou cubanos. Só a poder de muita paciência eu suportava ouvir-lhe a gabarolice do alcance das armas americanas sobre o mundo, e mesmo sobre o universo inteiro, terror dos povos e aviso constante para os eleitos desses países. Hermes aplaudia tudo o que eu mais abominava na América desse tempo e nessa cabecinha de vento do meu cunhado. Passaram anos, e nós cada vez mais frios e distantes um do outro. Ele no seu novo mundo americano, eu no meu, mais pobre, o único português da família a baralhar a realidade de cada um com a sua ideologia sobre este mundo e o outro.
O meu irmão Artur (Arthur desde que obteve a cidadania americana), fora de propósito de Providence a New Bedford, ver com os próprios olhos como paravam as coisas entre o casal. Deu-me notícias do Hermes. Fiquei a saber que se reformara, deixando para trás uma vida de vigilante de máquinas e turnos de segurança numa fábrica. De novo sentado que nem um paxá à frente da televisão, convertera-se num maldito bebedor de cerveja. Berrava de lá as suas ordens à pobre Arminda, e ela saía de entre fogões e panelas, à boa maneira portuguesa, e servia sua excelência de mais cerveja com tremoços ou peanuts torrados, às vezes um prato com pão, uma salsicha a fumegar ou um hambúrguer coberto por molho de tomate ou por mostarda. Mesmo a ferver na sua cólera de justiceiro familiar, Arthur limitou-se a seguir com os olhos, lá do canto onde se sentara, os passos dela: o rosto sempre triste de Arminda, o olhar resignado à criatura imperial com quem casara e tivera três filhos.
Por isso e o mais, não poderia ser grande a nossa afinidade de cunhados; e tão-pouco haveria de ser sincero o meu respeito por Hermes, sempre tão bajulador, assim como o dele pela minha pessoa. Mais uma razão para eu me alertar quanto ao motivo pelo qual tinha agora a sua voz portuguesa no ouvido, o tom americanizado, a música falsa de cada frase, num arrevesado de palavras inglesas que já não pertenciam a língua nenhuma.
Há nervosismo nas vozes, a minha e a dele. Mal o cumprimento, pergunto-lhe por Arminda, e se filhos, noras e netos estão de boa saúde, e porque não vinha ela, a mana, ao telefone falar comigo. Um breve silêncio na linha. Algo me diz, não sei se a intuição, se a experiência da vida, que devo recuar na minha agressividade contra ele. Acode-me então um presságio: não esteja ela outra vez doente, ou tenha até morrido de repente, sabe-se lá, e ser essa a má nova que Hermes vem dar-me de viva voz pelo telefone. (É de longe e com mais frequência que se nos apregoam as piores surpresas da vida). O meu cunhado diz-me que não, ninguém na casa deles nem dos filhos está doente, graças ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. A tensão da voz dá lugar a uma cautela precavida, na sua entoação americana. De certeza que tem algo de urgente ou de muito embaraçoso a dizer-me. Só não encontrou ainda o fio da corrente, nem a fúria essencial, nem a linguagem mista de duas línguas, mas não bilingue, que se tornaram estrangeiras desde que passaram a fronteira do meu país para a de uma terra que viria a apoderar-se do destino de toda a minha família.
Somos práticos, somos lúcidos. A nossa atenção toma conta tanto do olhar como do ouvido e do fremir ansioso da pele. Ouço um suspiro de afrontamento na respiração dele, não mais do que um sopro do hálito no bocal do telefone. Presumo que tenha bebido uma grade de cervejas para ganhar a coragem de me ligar. Mas nem assim ele se decide. Tenho de ser eu a intimá-lo a falar, a perguntar-lhe se alguma coisa o perturba – um segredo, a hesitação nervosa de quem se sente pouco à vontade com quem o escuta do outro lado da linha, neste cabo do meu mundo. Por fim, gaguejando entre o inglês e o português, Hermes lá se atreve a grunhir a primeira frase:
– Óme, ei e tua irmã temos ûa cousa serius e not easy pra te dizer.
Pausa. Novo embaraço. O nó górdio atravessado na garganta. Muito mais perturbado do que eu, apesar de já ter entendido que era o visado das hesitações dele ao telefone.
– Tu não tinhas o d’reito de pôr a gente os dous, mais os nossos filhos e toda a família nesse teu book! Ainda por cima de uma maneira tão silly! Ficas a saber que ‘tamos ofandides por tua causa – e, isto dizendo, a voz parece libertar-se de um peso superior ao da sua coragem, um peso comparável ao de uma montanha que tivesse caído em cima da cabeça do meu cunhado.
Ouço de novo um sopro para o bocal do telefone, agora mais livre e mais amplo no seu suspiro de vitória. Claramente aliviado por ter logrado um primeiro avanço na conversa. Dou-lhe tempo a que volte a compenetrar-se, antes de continuar. Traz todo o discurso atravessado na garganta. Mas o ressentimento trava-lhe a língua, impede-o de me dizer tudo de seguida. Talvez precise de mais um gole de cerveja. Ou de uma garrafa inteira bebida de um só fôlego, para que se lhe aclare a voz e ele se atreva por fim a ajustar as suas contas comigo. Impressiona-me estar perante um homem tão forte, com mãos grossas e duras como gadanhos, capazes de me rasgarem de cima a baixo, e ao mesmo tempo tão cobarde no modo como se agacha à minha pessoa. Não deve ser no corpo que reside agora a sua força contra mim. São-lhe mais custosas as palavras perante a minha linguagem, que ele reconhece tão diferente quanto superior à dele em tudo o mais. Sente o incómodo, lida com o complexo de quem sabe ter um pé, ou os dois, fora do seu mundo americano e com eles invadir os domínios do meu conhecimento europeu.
Hermes é hoje um homem economicamente avantajado na vida, um emigrante mais do que remediado em comparação com as suas posses de outrora, ainda em Portugal. Lembro-me da sua grande casa americana de dois pisos, com um muro alto a contornar o relvado e o jardim da frente, o barbecue na parte de trás, assim como a lenha em meda e as ferramentas e máquinas de jardinar, mais a garagem dos carros numa espécie de pavilhão separado de tudo, lá ao fundo do jardim. Não obstante isso, ele sabe que nunca superou nem superará a sua condição de estrangeiro. A ideia que fará de mim deve ser a do sábio que mora no alto de um monte, ao qual subiu através de trabalho e anos de estudo. Ao passo que ele não vai além de um pobre homem com o dinheiro aferrolhado nos bancos americanos, um recalcado pela vida e pelos turnos de trabalho numa fábrica da América. Tenho de ser eu a insistir para que se abra comigo e me diga de uma vez o que traz em mente.
Preciso de entender o princípio, meio e fim da iniciativa dele em telefonar-me dos Estados Unidos, numa tarde de sábado cheia de sol em Lisboa. Confesso-me atónito e quase obtuso – e é óbvio que o meu cunhado não sabe o que significam tais palavras. A voz dele tropeça no embaraço, ao emaranhar-se no inglês e no português. Hesita entre um impulso de ira e a firmeza do tom a dar às frases que ainda tem a dizer-me. A custo, lá se apodera por fim do que supõe ser o seu melhor trunfo contra a minha pessoa:
– Óme, a gente e os outres teis irmãos e cunhades decidimos contratá um lawer e pôr um processo no court da Justiça contra ti. Queremos esse tê book proibido de ser traduzido em americano. Seria a vergonha da nossa cara aqui, nas terras da América!
Não foi pequeno o meu espanto, confesso. Primeiro, precisei eu próprio de acreditar no que acabara de ouvir. Uma estranheza, a desordem dos sentidos dentro e fora de mim. E o calor do desdém a subir-me do coração à cabeça. Com que então, a santa da minha família estrangeira a declarar-me guerra por um livro, que mais não é do que uma história vivida por milhares, talvez milhões de emigrantes, como todos nós o fôramos e o éramos ainda, e continuaríamos a sê-lo por anos e séculos sem fim; a família apostada em processar-me judicialmente lá tão longe na sua América, com base em suposições e ideias mais do que peregrinas, modos ingénuos e primários de ler e de entender uma coisa chamada “ficção”.
Estava então em curso a tradução para inglês desse meu livro, «Os Irmãos Estrangeiros», às mãos de um descendente de açorianos emigrados há décadas para os Estados Unidos. O que dele pudesse alguém ter dito quanto a um hipotético carácter biográfico e familiar – só poderia ser obra de mexericos fermentados pelos maus fígados de outros emigrantes. As paixões do ódio, as rivalidades com o vizinho da frente ou do lado de baixo, a inveja entre gente oriunda do mesmo burgo e do tempo que todos levaram consigo para o chamado Novo Mundo. Apanhando-se bem da vida lá no estrangeiro, depressa passam a odiar nos outros a sua própria condição de origem. Uma gente dada a remoer, a pôr em causa a história de outros seres humanos que são afinal o que eles foram no passado: uns pés-descalços na linha de fronteira entre dois países. Tal como eles fizeram no seu tempo, os novos emigrantes estão agora a sair das casas, terras e infâncias da sua infelicidade, para irem cruzar a tal linha de passagem da fronteira e perderem-se na estranheza de uma língua que não lhes pertencerá nunca. Isso os tornará distantes e diferentes para o resto da vida.
Para mim, aquilo foi um embate, um choque que fez com que me encostasse à janela para absorver a luz do dia. Como se nela procurasse refúgio. Eu parecia alguém que tinha deixado de saber quem era e o que ali fazia, de pé dentro da minha casa e com o telefone no ouvido. Há quem perca a sua fé em tudo de um instante para o outro e por um motivo qualquer, a começar pela literatura. Não sei se iria ser esse o meu caso. Sinto um sufoco, ao imaginar-me réu de uma causa alheia, espécie de calúnia lançada não pela boca do meu cunhado Hermes, mas por anónimos sem rosto nem nome, uma terceira pessoa do plural designada apenas por “eles”. Os outros, sempre os outros. O inferno deles, Sartre tinha toda a razão. Tive a impressão de que me começava a faltar o ar respirável. Afastei as cortinas, abri as janelas de par em par. Que maravilha, o sol e a aragem do dia!
Eis aí a minha tarde de sábado. Não obstante estarmos em pleno Outono, vai lá fora um esplendor de luz no dia. Observo os montes ao longe, vejo casas e casinhas batidas pelo sol. Lembro-me lindamente desses montes desde o tempo em que, estando ainda desabitados, formavam uma cordilheira verde, algo enevoada, a contornar em arco este troço dos confins de Lisboa. Vieram os pretos de todas as Áfricas, juntaram-se-lhes os brancos e os escuros estrangeiros – eslavos, brasileiros, indianos, romenos, ciganos sem pátria - e veio também toda uma gente do campo que decidira fugir dos novos desertos do interior do país em que se iam transformando as províncias portuguesas. Agora, toda essa gente tenta sobreviver à sombra da cidade. Começaram por montar tendas e barracas nos desvãos da serra, depois construíram sobre elas casas clandestinas que deram lugar a ruas, prédios e até condomínios de gente endinheirada. Ergueram também uma ermida lá no cimo dessa montanha, e com a frontal voltada para Jerusalém. É o que vejo daqui: casas, ruas orvalhadas encosta acima, até aos cumes elevados da serra. Quando nelas bate o sol de frente, a sua luz irradia tranquilidade sobre o dorso dessas lombas montanhosas. Atrevo-me a pensar: toda a gente que ali vive deve saber melhor do que eu como ser feliz numa tarde de sábado, instalada num lugar tão alto, de onde pode ver o pesar e a solidão de Lisboa, e também no interior da minha janela.
Tentei rebater as acusações e ameaças do meu cunhado Hermes. Fui insolente e superior, de modo a afastá-lo de mais conversas comigo. Por último, já a berrar, exigi-lhe que passasse o telefone à minha irmã. Era com ela, e não com o seu rude e estafado marido, que eu devia entender-me. Antes de começar a falar comigo, ouvi-a respirar, ofegante, reservada na sua hesitação. Mal a saudei, o que acentuou ainda mais o nervosismo dela. Pretendia saber de que lado estava a mana, se contra mim e pelo marido, se por mim e contra a má-fé das tais pessoas que lhe garantiram ter lido «Os Irmãos Estrangeiros» em português. Pus-me a rebuscar palavras sóbrias, leves como penas, para construir a minha defesa. Tal como os outros irmãos, a pobre mana não frequentara mais do que a escola primária e a quarta classe, que tivera de concluir já adulta, por abandono escolar, e só quando se propôs embarcar para a América. Nunca fora fluente em nada e coisa nenhuma, nem mesmo na língua materna. Agora termina as suas frases portuguesas com you know; se tenta explicar-me seja o que for, repete I mean vezes sem conta. E os seus telefonemas começam por hello e terminam com bye, bye, miss you, see you soon, brother – com pronúncia portuguesa.
Como explicar à Arminda a simples, elementar noção de tudo o que me diz respeito: isso de literatura o que é? e de que modo entender a diferença e a proximidade entre a verdade real e a ficção da realidade? Fazer-lhe entender por que motivo me chamam escritor em Portugal, e para que serve isso de ser escritor, o que faço eu aqui, de onde me vêm as ideias que ponho nos livros. Difícil fazer-lhe ver que as personagens não são, nem têm de ser quem ela pensa, e sim gente imaginária que nos faz lembrar a história de uma qualquer família, venha ela dos Açores, de Portugal continental ou de outros países - como a paupérrima Índia, o Japão, a Turquia, o Egipto. Pessoas iguais a nós, e também irmãos, cunhados, sobrinhos entre si. Como explicar-lhe que o título de «Os Irmãos Estrangeiros» contém em si os vários sentidos do termo “estrangeiro” – sinónimo de estranho, forasteiro, diferente, nascido e com berço noutra terra? Tal e qual eles e eu, frisei bem. E toda a gente que mora na vossa rua portuguesa de New Bedford, também.
Falo à minha irmã noutro modo de verdade: a diferença que passou a existir entre nós, membros da mesma família, desde que nos separámos e cada um se tornou emigrante à sua maneira – eu a viver há muitos anos em Lisboa e eles na grande América dos seus sonhos. Aludo ao desconhecimento mútuo e à estranheza que aos poucos se foi instalando entre nós à distância, irmãos da mesma infância, filhos dos mesmos pais, a ponto de eles se terem naturalizado americanos e ficar eu para trás, o único português de uma família saída de antigos povoadores de ilhas, oriundos de uma qualquer província portuguesa, ou dos nobres que frequentaram o paço real; ou, sabe-se lá, descendente dos degredados que o rei condenou ao exílio na nova terra descoberta, ao corso marítimo ou ao tráfico negreiro entre a África e o Brasil. Pobre mana, que não entende nada do que lhe digo. Tudo inútil, nada funciona entre nós.
Confessa-me isso mesmo, com uma tristeza sombria na voz, a mesma que sempre lhe conheci na nossa infância portuguesa. Por fim, a muito custo, diz-me que se limita a fazer suas as opiniões do marido: alguém fora lá a casa dizer-lhes que lera o livro e o tivera por ofensivo como a lama dos caminhos, a expor-nos e a fazer pouco de nós – pai, mãe, irmãos, cunhados, sobrinhos, sobrinhos-netos.
É uma irmã sincera e naturalmente bondosa, esta. Não sabe dizer-me em que termos se vê retratada nesse meu livro. Nem ela nem o marido alguma vez leram um livro após a escola primária. O que pretende garantir é que os nomes deles andam nas bocas do mundo, pela mão de quem leu o livro e nele viu o que só os falsos leitores julgam ver nos falsos livros dos falsos escritores. Eles, Hermes e Arminda, nem sabem o que é isso de novel e de fiction; pior ainda, o que significa a palavra literatura/literature – dita em português ou na língua inglesa. É aí que me perco outra vez, a tentar traduzir-lhe a minha ideia, o uso dessa coisa a que o mundo inteiro deu o nome de literatura em todas as suas línguas. Faço-o como se agisse em legítima defesa. Saio-me bem, julgo eu, da minha exposição acerca da equidistância de fundo entre histórica e romance. Fazendo uso dos termos mais simples, tento elucidá-la sobre os mecanismos disso a que chamo ficção e eles fiction. Depois, entra-me um desânimo, um equilíbrio impossível à beira do precipício. Não consigo usar de melhor clareza explicativa, nem transmitir com simplicidade e eficiência a ordem metafísica da ficção; de como me sirvo dela para ensaiar a verdade do mundo, o sacrifício, a experiência da vida humana. Exemplifico-lhe:
– Os nossos sonhos são ficção, os desejos são ficção, também o que designamos por sentido figurado, ou as imaginações do bem e do mal. A verdade pura só existe numa realidade igualmente pura. Os homens tiveram necessidade de inventar a fiction não para mentir uns aos outros, mas para captar as condições de vida que podem servir de lição às outras pessoas.
Sinto cada vez mais o falhanço de quanto digo ao telefone, ao ouvido da minha irmã. Não encontro explicação para nada, tão-pouco a minha defesa contra as acusações que me são feitas pelos mixordeiros e intriguistas da comunidade emigrante, junto da minha família estrangeira. Eles vivem na América, sim, mas numa aldeia só deles. E numa única rua, a rua dos portugueses. Levaram consigo as procissões, as missas ao domingo e aos feriados religiosos, assim como a tradição de mandar benzer as casas uma vez por ano, para delas expulsar os espíritos do Mal. Foram eles, aliás, que construíram a sua própria igreja. De modo que não existe uma diferença essencial entre essa aldeia americana e aquela onde foram batizados e crismados em Portugal.
Termino com uma jura: ninguém nesse meu livro é o que se deve designar por uma pessoa real. A gente que nele existe é outra, parecida com pessoas do mundo inteiro que vivem fora do seu país. Mas a frase deixa-a como se eu acabasse de a fuzilar: morta entre mim e o marido. Suo, cerro os dentes com força, vem-me uma vontade inesperada de chorar por eles e por mim. Desisto das minhas inúteis explicações. Nada nesta vida é universalmente aplicável ao género humano. Digo à mana que me sinto cansado, talvez doente, a caminho da loucura, não esta de agora: a outra que é definitiva, única e verdadeira, a loucura louca da minha solidão num mundo que é só meu, tão longe e tão distinto do deles.
A mana desliga, não sei se desiludida, possivelmente de relações cortadas comigo a mando do marido e dos restantes irmãos estrangeiros que vão processar-me por causa de um livro de ficção, saído do engenho e da imaginação da minha cabeça. Padeço de angústia e metafísica em toda a parte, já o escrevi algures. Resigno-me ao mundo de Lisboa que ergui contra as regras da família, e que eu próprio fui construindo, como toda a gente portuguesa, pedra a pedra, muro a muro, entre a proibição e aquilo a que nos obrigam na vida. Ouço o silêncio de uma família inteira que se cala e como que apaga sobre si a existência da minha pessoa. É certo que há muito me tornei estrangeiro a eles, e eles a mim. O conhecimento recíproco foi sendo cada vez mais imaginário do que derradeiro. Custa perder o pouco que se tem e o que afinal já não é nosso, e do qual nos servimos por um puro instinto de pertença.
Não existe dívida maior de um país para com os seus naturais do que a ignorância a que os condena durante uma vida inteira. A ausência do saber condiciona a pessoa, do primeiro ao último passo do seu caminho. Limita-a no conhecimento próprio e dos outros. Acometida por uma realidade que lhe é de todo alheia, cai à água e não sabe nadar. Vive esbracejando para se manter à tona, mas só o faz enquanto acredita estar viva. Não há mundo que possa reduzir-se a uma imagem. Deve criar-se uma ideia para essa imagem. Só os princípios da razão me separam do quotidiano dos meus irmãos estrangeiros. Nunca faltou amor nas cartas que lhes escrevi, nem nas deles para mim, pese embora a distância fria que há tantos anos nos separa entre mundos e continentes tão distintos – a Europa e a América.
Não me sinto com forças para ligar a cada um deles e explicar-lhes o meu jogo de ficção. Além de me moverem o tal processo, é natural que não aceitem falar comigo daqui em diante, e nem atendam o telefone ao verem um número português no visor. Relações cortadas – o que significa? O princípio da inexistência. Até ao dia em que o livro vá a julgamento, e eu com ele, é o silêncio a cair-nos em cima como uma chuva forte e contínua, das que que não molham nem produzem ruído. O reverso do jogo é a impossibilidade da compreensão deles acerca de mim e daquilo em que me tornei ao escrever livros que eles não leram. Porque não estudaram. Por muito que lhes garanta que a ficção não passa de um “fazer de conta” que nos aproxima de alguém e de todas as coisas, eles não a aceitarão. Ignoram as regras e a finalidade do jogo.
Serve para quê isso de literatura? As contingências e dores da vida ensinaram os meus irmãos estrangeiros a tomar à letra tudo o que esteja escrito. Desde as Sagradas Escrituras até aos livros que falam deles e de mim como de a nova espécie de órfãos que somos. Órfãos desde a morte dos nossos pais, tanto na vida dentro de casa como na grande, misteriosa roda do mundo. E não apenas deles: primeiro que tudo de nós mesmos, depois do que nunca nos deram: os sonhos em vão sonhados, os desejos que não se realizaram em tempo algum na vida de ninguém. Isso sim, a literatura.
Voltar