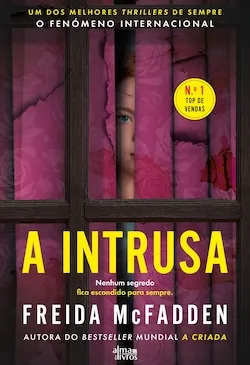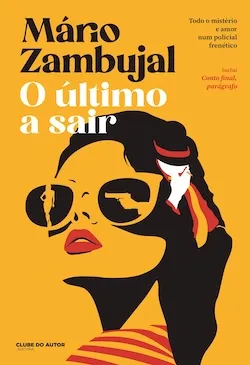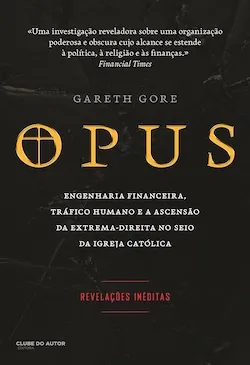Raízes - João Tordo

Viagens - O Duplo de Montreal
2013-07-18 00:00:00Fazia um ano que eu não escrevia quando aterrei no Canadá. Um ano contado ao mês: desde Junho anterior que não me sentava à secretária e alinhava um parágrafo, sequer uma frase. Na realidade, havia um ano que eu não alinhava nada – a necessidade e o engenho, o útil e o agradável, a bota e a perdigota. Quando soube que iria passar o Verão no Québec, tracei para mim próprio um plano modesto mas compreensível, dadas as circunstâncias: talvez a residência literária pudesse dar origem a uns quantos contos, quem sabe uma novela, na melhor das hipóteses – mas esta era muito remota –, o princípio de um romance. O problema era este: eu caíra, no decurso do ano anterior, numa depressão mais ou menos incómoda que se manifestava em dois sintomas mais ou menos irritantes: o primeiro impedia-me de escrever; o segundo impedia-me de parar de pensar em escrever. O primeiro traduzia-se nisto: sentado ao computador, era incapaz de deixar de imaginar o que estava a acontecer noutro lado qualquer enquanto eu escrevia. O segundo, que ocorria quando estava noutro lado qualquer, traduzia-se numa vontade indomável de regressar a casa e de me sentar em frente ao computador. Evidentemente que eu entrara num ciclo vicioso; e, nestas ocasiões, é prudente ter alguém por perto que nos possa ajudar a quebrá-lo. Assim, em vez de procurar ajuda ou de explicar qualquer um destes problemas a um amigo ou a um familiar, não descansei enquanto não me encontrei no avião a caminho do Québec, acometido de uma crise de ansiedade que me dizia que era melhor ter ficado em casa.
Também não sabia quase nada sobre o Canadá e, em particular, sobre Montreal. O que eu queria era, ao chegar, descobrir que todos os problemas que vira acumularem-se no ano anterior tinham ficado no avião ou haviam transmigrado para o corpo de outro passageiro qualquer. Sim, eu era egoísta a este ponto. Na fila para a imigração observei atentamente os meus companheiros de viagem à procura de tiques nervosos. Não encontrei nenhum, mas dei conta do tique nervoso da minha cabeça à procura de tiques.
Fazia um calor dos diabos na cidade. O apartamento ficava num bairro residencial entre Petite Italie e Mile End, que era uma zona frequentada por artistas, padeiros e mafiosos. O meu senhorio era casado, gay e cabeleireiro; na última semana, cortou-me o cabelo, que ficou impecável. Tinha um caniche que me mordia os sapatos. No segundo dia conheci Daniel Saldaña Paris, um poeta mexicano que fora convidado para a mesma residência literária. Ele vivia próximo da Place des Arts, na baixa, num prédio de vinte e um andares; o apartamento dele era o vigésimo. Fomos tomar uns copos a um bar chamado Le Pourvoyeur, no meu bairro, que tinha empregadas bonitas e mojitos espampanantes, e do qual fomos convidados a sair quando acendemos cigarros em simultâneo. Nunca voltámos ao Pourvoyeur, mas tornámo-nos adeptos do Vices & Versa, na Boulevard Saint-Laurent, que tinha um extenso menu de cervejas produzidas no Québec, hambúrgueres de rena e um pátio para fumadores. Imediatamente compreendi que Saldaña Paris ia ser o meu melhor amigo, pois éramos muito parecidos – não na aparência, uma vez que o poeta mexicano é razoavelmente mais baixo, de olhos verdes ou azuis que procuram incessantemente alguma coisa e mãos pequenas e nervosas; no que diz respeito ao resto, contudo, éramos gémeos idênticos. Andávamos numa depressão continuada; ambos duvidávamos se, alguma vez, tornaríamos a escrever uma linha; tínhamos ataques de pânico em conjunto (uma vez tivemos um quase ao mesmo tempo à saída de um concerto de Ron Carter no Club Soda, no Quartier des Spectacles. Era meia-noite, a temperatura chegava aos quarenta graus, estávamos os dois sóbrios e a cidade encontrava-se no auge caótico do Festival de Jazz – eu olhei-o e ele olhou-me, dissemos adeus e fugimos, extraviados, em direcções contrárias). O metro era muito agradável em Montreal, ideal para situações daquelas. Nunca estava cheio, as carruagens eram espaçosas, podia ter-se um ataque de pânico à vontade. Nessas alturas eu ia para casa e encharcava-me em comprimidos e Daniel ia para casa, ligava à mulher (que ficara na Cidade do México) e fumava a erva que comprara a um velho sem uma perna em frente de um restaurante ridículo chamado 3 Amigos, na Rue St Catherine, decorado com sombreros gigantes e coloridos e cujo chavão, por baixo do nome, era No Problemo. A realidade era bem distinta e claramente havia problemo, porque passei várias vezes pelo restaurante e reparei que era um lugar privilegiado de negócios obscuros – a menos que No Problemo dissesse respeito à ausência da Polícia. No dia seguinte riamo-nos das nossas figuras e prometíamos nunca mais sair sem beber o suficiente para aplacar a ansiedade. Vimos outro concerto durante o Festival de Jazz na Sala Rossa, um bar com uma sala enorme onde se podia fumar e ouvir música. Tocava Marc Ribot, um ídolo dos dois, mas a situação tornou-se difícil porque tínhamos estado, durante toda a tarde, num bar chamado Dieu du Ciel!, na Avenue Laurier, que servia cinquenta variedades de cerveja que mudavam semanalmente. Como havia um pátio, sentámo-nos a fumar cigarros e a ver passar as raparigas (já vos falei da beleza das raparigas de Montreal?). Embora Saldaña Paris fosse casado e eu me encontrasse recentemente separado, não demorou até à terceira cerveja com sabor a pimenta para a conversa atingir picos de frustração sexual e metermos conversa com duas québecóis, que não falavam inglês, transformando o diálogo numa coisa semelhante a isto (porque nenhum de nós falava francês):
“Nous allons a um concerto down the road. You want to come? Vous voullez?”
“Que disent-ils?”
“La chingada, hombre. We’re fucked.”
Levámos as raparigas ao concerto, mas a comunicação era tão difícil que eu resolvi beber dois shots de tequila e adormeci durante um exuberante solo de Ribot.
Entretanto, durante o dia, andávamos exaustos. Era impossível dormir mais do que quatro ou cinco horas na humidade exasperante da cidade. De maneira que, pela manhã, de olhos pesadíssimos e com o estômago às voltas, ligava ao mexicano para saber se tinha chegado a casa inteiro – ele cruzava a cidade, todas as noites, na sua bicicleta, a alta velocidade, e eu temia que o encontrassem desmaiado num contentor das obras – e ele atendia, obrigando-me a prometer que nunca mais bebíamos daquela maneira porque o maior medo que tinha era o de trair involuntariamente a mulher.
Aliás, minto. O maior medo de Saldaña Paris era encontrar-se a si próprio. Explicou-me, uma vez, no Casa del Popolo, um bar e sala de espectáculos de inspiração latina próximo Plateau Mont-Royal:
“Sabes aquelas pessoas que vão para a Índia encontrar-se? Era a última coisa que eu queria. Aconteça o que acontecer, quero tudo menos encontrar-me. Promete-me.”
“Prometo-te, Saldaña Paris.”
Estávamos sentados ao balcão e comíamos putine, um prato típico da ressaca que consiste em batatas fritas com queijo coalho e molho castanho.
“Promete-me que não vamos à Índia.”
“Prometo-te.”
Nunca fomos à Índia, mas fizemos coisas igualmente estúpidas. Uma tarde de Domingo fomos, por insistência minha, a Crescent Street, no coração da Baixa, uma rua invadida e conquistada pelos universitários americanos, a versão canadiana de Tijuana (a mãe de Daniel vivia em Tijuana e ele confirmou). Assentámos num bar chamado Thursday’s, que era altamente recomendado por todos os guias turísticos e que tinha todas as características de um bar de strip sem ser um bar de strip. As empregadas vestiam saias curtíssimas e, embora estivessem do lado errado dos quarenta, comportavam-se como adolescentes na menopausa, olhando-nos com arrogância e má educação. Por outro lado, os outros homens que estavam no bar – americanos de t-shirts justas, calções e carteiras inchadas de dólares – eram tratados como caciques em campanha eleitoral, e não demorou muito até que, no quadrado que constituía o balcão principal, fôssemos os únicos sem companhia feminina. O que estava bem para nós. Munidos de cerveja e rum, observámos as cenas de engate a decorrerem até que, a certo momento, Saldaña Paris (que nessa ocasião bebeu mais do que a conta) se ergueu do tamborete e, fingindo que tinha uma espingarda na mão e que atirava para o ar, como um traficante de droga mexicano, gritou: La chingadaaaaa!!! Fomos convidados a sair imediatamente.
Foi o Verão das revoltas estudantis no Québéc. Por toda a cidade havia resquícios de manifestações e as pessoas andavam com pequenos quadrados vermelhos de feltro nas lapelas. Uma amiga comum disse-me, a mim e a Daniel, que tínhamos muita sorte, porque chegávamos num tempo de grande convulsão social. Mais tarde, ele confidenciou-me:
“Convulsão social? Tudo o que vi foram uns estudantes maricas a baterem panelas do IKEA. No México aparecem cabeças cortadas nas discotecas todos os fins-de-semana.”
Já vos disse que as raparigas em Montreal são lindas?
O programa de fim-de-semana incluía um lugar chamado L’Escalier, um bar vegetariano em Saint-Catherine que tinha uma política estranhíssima de admissão e que albergava criminosos em série. Da rua era impossível saber que o bar se encontrava ali: ficava escondido no meio de um edifício da Presse Internationale, uma porta insuspeita que conduzia a um segundo andar de deboche. Éramos obrigados a comer, pois só podiam servir álcool acompanhado de comida; como chegávamos sempre tarde, vínhamos com a fome que as cervejas provocavam e devorávamos um prato de nachos. Íamos ao L’Escalier para conhecer mulheres, não haveria outra razão: era um tegúrio de mesas e cadeiras estropiadas onde tocavam bandas estranhíssimas e, aos Sábados, se transformava numa pista de dança com ritmos latinos histriónicos. Foi lá que conhecemos o Juanito, um traficante de erva e cocaína que sorria a toda a hora como se fosse muito estúpido (na verdade era muito estúpido, mas conhecia todas as raparigas que entravam e saíam do L’Escalier e poupava-nos ao trabalho de nos apresentarmos, ou de eu nos apresentar, uma vez que Saldaña Paris tinha um medo incrível de se apresentar a mulheres). Uma vez, depois de muita tequila, resolvemos comprar-lhe erva e fomos para a casa de banho tentar enrolar um cigarro de marijuana. Eu já não fumava nessa altura mas, por alguma razão, pareceu-me que ajudar o meu amigo mexicano era uma empreitada divertida. Fechados no cubículo, com uma fila de latinos possuídos pelo demónio da salsa e do cha-cha-cha a baterem à porta, suados até aos ossos do calor infernal, observei-o a tentar enrolar a erva numa mortalha gigantesca em cima do joelho, com um pé sobre o tampo da sanita. Os nervos tomaram conta dele e, quando saímos, tínhamos feito uma espécie de charuto produzido por um cego maneta que se revelou impossível de fumar. Ao abrirmos a porta, os machos em fila olharam-nos: dois tipos magros, de óculos de massa castanha, com o aspecto endoidecido de quem lera Kafka demasiadas vezes e a culpa estampada no rosto.
“Paneleiros”, disse um deles. Nós aceitámos.
Saldaña Paris nunca traiu a sua querida mulher, mas eu conheci uma rapariga québécois. Passámos noites divertidas no Billy Kun, um bar escuro e concorrido no Plateau Mont-Royal, bebendo martinis e comendo putine. Nunca mais nos vimos, mas os amores de Verão são assim mesmo. Entretanto, tanto Daniel como eu – embora nos recusássemos a admiti-lo pois estávamos viciados na conversa da depressão e do pânico, julgando supersticiosamente que, se confessássemos algum bem estar, tudo se esfumaria – havíamos retomado a escrita. É sabido que um cego não pode levar outro cego a parte nenhuma mas, naquele caso, dois ansiosos crónicos tinham conseguido anular-se, e a vida regressou aos eixos: tudo aquilo que eu fora incapaz de confessar aos amigos e à família, tinha encontrado em Saldaña Paris, e esse espelho (ou esse reconhecimento) ajudara-me a sair do buraco em que andava metido.
Sem me dar conta, fora mais além do plano que havia traçado. Passara o Verão em Montreal sem visitar um único museu, sem conhecer qualquer galeria de arte, sem apreciar nenhum monumento histórico. Por outro lado, conheço de gingeira os melhores bares da cidade, e a verdade é que detesto museus, galerias de arte e monumentos históricos. Também fiz um amigo para a vida, o genial e instável Saldaña Paris, e – esqueci-me de dizer isto? – escrevi um livro. Sim, o desbloqueio aconteceu, de repente, sem aviso, e “O Ano Sabático” escreveu-se quase sozinho, um livro sobre a identidade (ou a falta dela) e o duplo. Montreal não foi uma cidade, mas um tempo: um tempo em que a necessidade se tornou a unir ao engenho, o útil ao agradável, e eu voltei a ser eu, muito longe de casa, embora tudo aquilo pudesse ter acontecido em Lisboa, na Cidade do México ou na Índia (pobre Daniel!); por acaso, aconteceu ali.
João Tordo
Mais raízesVoltar